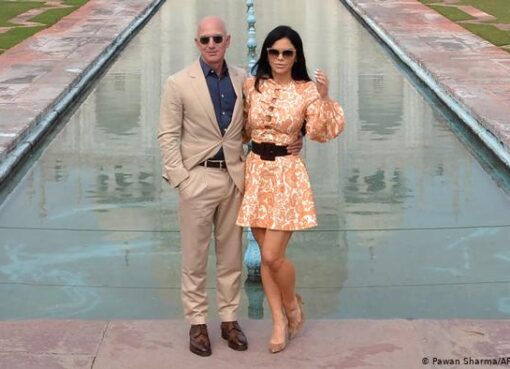Em entrevista à DW Brasil, artista fala sobre os 54 dias que passou na prisão durante a ditadura militar, tema do documentário “Narciso em férias”, e diz ver uma perspectiva “sombria” para o Brasil sob Bolsonaro.
Aos 78 anos, Caetano Veloso convida espectadores a mergulharem em algumas de suas mais profundas e dolorosas memórias. Ao assistir ao documentário Narciso em Férias, que estreou na última segunda-feira (07/09) na 77ª edição do Festival de Veneza, experimenta-se a força da narrativa, mas também da linguagem corporal e simbólica do cantor e compositor baiano.
Tudo começou quando Paulinha, como Caetano se refere carinhosamente à companheira Paula Lavigne, teve a ideia de recontar o capítulo Narciso em Férias, do livro de memórias Verdade Tropical, com imagens em movimento. Nesse capítulo, o baiano descreve a temporada que passou no cárcere durante a ditadura militar.
A produtora e empresária Lavigne idealizou o documentário e, para dirigi-lo, convidou Renato Terra, que repetiu a parceria com Ricardo Calil, iniciada no longa Uma Noite em 67. “Nesse momento do país, sinto que o filme entra como um sopro de afeto, de esperança, de força e de clareza”, diz Terra à DW Brasil.
Os dois diretores optaram por um formato minimalista, no qual cada detalhe ganha relevância: os silêncios, as pausas, as inflexões de Caetano. “Tiramos imagens de arquivo, tiramos entrevistas, tiramos trilha sonora, tiramos qualquer efeito de câmera”, explica Terra.
No longa, com 83 minutos de duração e também disponibilizado no Globoplay, Caetano aparece numa sala cinza vazia da Cidade das Artes, espaço cultural inacabado no Rio de Janeiro. Ele está sentado em uma cadeira e algumas vezes, poucas, pega o violão e canta.
“O Antônio Prata me disse que, ao ver o filme, a experiência dele foi muito melhor assim, porque foi completando o que Caetano estava dizendo com as imagens da cabeça dele. É como um filme de terror, por exemplo, que fica muito mais interessante quando você não mostra o monstro. Você só sugere o monstro”, diz Terra.
Os 54 dias de encarceramento de Caetano tiveram início em dezembro de 1968, apenas 14 dias depois da emissão do AI-5. Ele e Gilberto Gil fora retirados de suas casas em São Paulo e levados para o Rio de Janeiro por policiais à paisana. Em entrevista à DW Brasil, Caetano relembra os horrores do cárcere: “Eu tinha uma alucinação de que a minha vida era só aquilo. Eu me lembrava das coisas como se elas fossem apenas sonhos.”
Sobre o atual momento vivido pelo Brasil, sob o governo do presidente Jair Bolsonaro, Caetano diz que a perspectiva para o país é “sombria”. “Temos um governo inimigo das liberdades […] No médio prazo, a gente olha para frente e não vê uma coisa muito boa.”
DW Brasil: Como era sua rotina durante os 54 dias em que ficou encarcerado?
Caetano Veloso: Gil e eu fomos levados para o 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Tijuca. Na primeira semana, eu fiquei numa solitária. Foi terrível. Dormia no chão, tinha uma privada perto da minha cabeça, um chuveiro por cima da privada e nada mais. Depois de alguns dias, eu estava muito mal da cabeça. Achava que nunca tinha vivido outra coisa, senão aquilo. No fim dessa primeira semana, fomos transferidos, Gil e eu, para um outro quartel (da Polícia do Exército da Vila Militar, no subúrbio de Deodoro), onde eu dividi o xadrez com outros rapazes. Eu num xadrez, e Gil no outro. Só por não estar mais na solitária já era melhor, mas continuava ruim. Não tinha onde dormir, tinha mais gente do que a cela podia comportar, tínhamos que dividir um chuveiro para todos. Por fim, me transferiram para o quartel dos paraquedistas do Exército. Desta vez, eu tinha cama, travesseiro, lençol. Tinha até um banheiro separado.
Você dividia a cela com outros artistas e intelectuais?
Eu não. No xadrez de Gil estavam alguns nomes da cultura brasileira, como o poeta Ferreira Gular, o escritor Antônio Calado, o jornalista e romancista Paulo Francis. Geraldo Vandré era procurado. Os militares tinham um ódio violento dele por causa daquela canção Pra não dizer que não falei das flores, que falava de “soldados armados, amados ou não”. Eu estava com líderes estudantis, rapazes vinculados à Igreja Católica, mas de esquerda. O Gil estava numa cela melhor porque tinha diploma, ele podia até ter violão. O sofrimento era grande. A minha mulher [Dedé Gadelha] não sabia onde eu estava. Ninguém da minha família sabia. Eu fui sequestrado, estava desaparecido. E já fazia um mês.
Foi nesse momento que você achou que poderia ser assassinado?
Eu vivi muitos momentos terríveis. No período final da primeira semana nessa solitária que eu descrevi, fiquei muito mal da cabeça. Achei que a vida tinha sido sempre aquilo. Porque eu dormia e acordava, e estava sempre ali. Não via ninguém, não via nem a mim mesmo. O carcereiro colocava café e um pedaço de pão através de uma portinhola. Eu tinha uma alucinação de que a minha vida era só aquilo. Eu me lembrava das coisas como se elas fossem apenas sonhos.
Um dia, quando eu estava no segundo quartel, o tenente chegou com um soldado. Eu me lembro que o soldado me olhava chorando. Ele balançava a cabeça, como se reprovasse aquela situação. Eu pensei: “O que será que vai acontecer?” Lembro-me de meus companheiros de cela assustados. Eles me olhavam com uma cara como se também estivessem se perguntando: “O que será que vai acontecer?” Esse tenente e outros dois outros militares me tiraram da cela. Eles me mandaram andar na frente deles. Eu saí da minha cela bastante tenso. Estávamos em uma vila militar. Quando eu estava andando na frente, eles armados atrás de mim disseram para eu não olhar para trás, e eu pensei: “Vão atirar, vão atirar.”
Então um deles me disse: “Vire à direita.” Eu fui por um corredor, era o barbeiro. Eles cortaram o meu cabelo, e embora eles estivessem simbolicamente tirando mais um pedaço da minha liberdade, fiquei feliz. Eles tosaram meu cabelo num estilo militar, bem batidinho dos lados [A foto do corte foi parar no cartaz do filme].
Você só compôs uma música na prisão. Em qual momento isso aconteceu?
Foi no terceiro quartel, o dos paraquedistas do Exército. A minha mulher [Dedé], enfim, me encontrou. Ela ficava do lado de fora da grade e, assim, podíamos nos ver. Aí minha cabeça melhorou e fiz uma canção meio de vontade de estar fora, de ser solto para eu ver minha irmã mais nova de novo, que era adolescente e tinha uma risada linda, a Irene. Eu fiz essa música sem violão, sem nada.

“Nesse momento do país, sinto que o filme entra como um sopro de afeto, de esperança”, diz o diretor Renato Terra
Este é o momento em que você chora no filme, quando a Dedé vai te visitar?
Eu me emocionei por não lembrar o nome do sargento baiano que facilitou meu encontro com Dedé. Depois, ele acabou sendo preso. Não gosto de falar disso. A gente teve que parar a gravação. Mas é preciso ter coragem de enfrentar o tema.