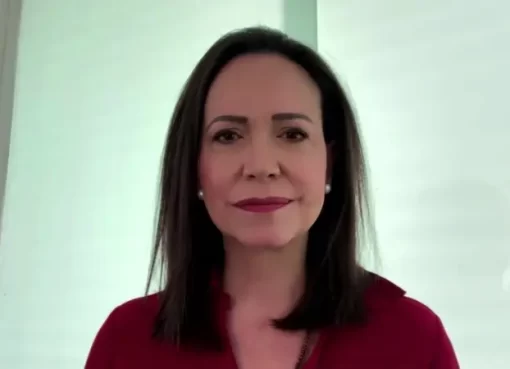Cicatrizes do desabamento do edifício no coração de São Paulo, que completa quatro anos. O morador-herói que salvou a muitos, mas não a si. Os imigrantes que “desapareceram”. Os desalojados, entre empregos de merda e aluguéis abusivos
Por: Caio Araujo
Parece que toda tragédia pede um herói. Alguns são inventados. Outros são invisíveis. E muitos simplesmente não existem. Esses são apenas vítimas, cujas histórias vão parar na pena de algum interessado, já que não mais estão aqui para contar. Morreram. Foi noticiado. E depois esquecidos.
Ricardo foi a primeira vítima identificada. Ele é o nosso herói. Era simpático com os vizinhos, eles dizem. Andava de patins, lutava karatê, tinha várias tatuagens, dois palhaços no peito, um tigre no abdômen, uma caveira no pescoço, o cabelo raspado, gostava de se fotografar e trampava de tudo um pouco: foi eletricista, entregador, lavador de carro. Ultimamente, carregava e descarregava mercadorias de madrugada no Brás e na 25 de março. Morava sozinho no nono andar, num cubículo com plantas na sacada que dava vista para Avenida Rio Branco com a Ipiranga. Tinha sete filhos – seis meninas e um menino. Chegou a ser preso por furto. Respondeu em liberdade e depois o processo foi arquivado, sem provas. E se essa linha teve que ser escrita, certamente não foi para manchar uma reputação morta, mas para reafirmar que a justiça falha.
Fernando Delfino e Fábio Henrique Ribeiro, bons amigos do Ricardo, não o têm como herói. Lembram dele como mais um trabalhador fodido, nem sempre sorrindo, porque não é só a alegria que é digna de ser recordada. E não precisamos de mártires para encontrar culpados. Trabalhador fodido, como nós. Gente que trabalha demais e cujo salário não alcança – e por isso se vê tendo que aceitar as condições de moradia dadas. Na falta de fiador, e sem grana para os três meses adiantados, no centro de São Paulo, se não é a rua, as opções são cortiços e cômodos apertados. Ou prédios abandonados. Você pode chamá-los de ocupações ou invasões, o que sua ideologia mandar, mas a verdade é que a nomenclatura não muda o fato: e o fato é que o salário não alcança o aluguel e todos querem um lugar para morar, além de ser isso um direito assegurado. Assegurado e descumprido.
Que ironia ter acontecido num primeiro de maio, aquela terça-feira maldita. De folga emendada com a segunda, Ricardo tinha passado a tarde no Parque Ibirapuera, patinando. Os registros do último dia de descontração estão nas redes sociais. E não era para ter sido o último. Tinha bebido, é verdade, mas só os moralistas relacionam bebida ao caráter. Passavam o dia bebendo, disse um vizinho do prédio ao lado, incomodado com a ocupação, e com que intuito disse? – diminuir o outro? Por que só presta quem trabalha, o tempo todo, até no primeiro de maio? Pobres e vagabundos, como se fossem sinônimos, devem pagar como todos para morar mal. E pagam. Mas não os quero aqui do meu lado, então que saiam, corram, dispensem e reintegrem a propriedade ao dono que não cuida. Pobres coitados esfomeados, que se vão, fora daqui. Aqui só meus semelhantes, minha estatura.
Herói por ter voltado e resgatado quatro crianças. Ou foram seis? E voltou duas vezes, ou três, cada qual carregando duas crianças nos braços, enquanto os moradores dos andares de baixo evacuavam o prédio em chamas, os bombeiros à caminho, gritos lá no nono andar, alguém precisa resgatá-los. Outros fizeram o mesmo – o Ricardo não é herói solitário, não é mártir, não queria ser herói, mas virou um porque é o que a morte faz com quem salva vidas e perde a própria. Foi na terceira vez que voltou. Nono andar. A estrutura comprometida. O fogo cercado. Não tem para onde fugir. Ligou para a polícia, suplicando que mandassem logo um helicóptero. Os bombeiros chegaram vinte minutos após o aviso. Chegaram tarde? Haverá sempre a crítica. Mas chegaram. Subiram o andaime. Lançaram a corda. E foi por pouco, muito pouco, questão de segundos, trinta talvez, que não conseguiram resgatá-lo. A estrutura ruiu. Era uma e treze da manhã. Vizinhos registraram a cena com celulares. As imagens circularam o mundo. O incêndio havia tomado conta do prédio no Largo do Paissandu, centro de São Paulo. Não foi imediato o colapso. Houve tempo para evacuar. Uns vinte minutos. Do contrário, não teriam sido sete mortos, teriam sido sete centenas. O número exato de moradores ninguém sabe. Fala-se em 300 famílias, com rotatividade. Uns entram, outros saem, o controle é frouxo, é informal, mas é gente pra caralho. Desespero. Gritaria. O Ricardo subiu de novo. Quase todos os moradores da ocupação tinham conseguido sair. O fogo destrói a estrutura débil. O edifício vai tombar.
Daqui de baixo se pôde lamentar o resgate frustrado. Parecia filme. O bombeiro na laje do prédio ao lado, a dez palmos do sujeito pendurado no lado de fora da sacada a trinta metros do chão. Qual dos dois é mais herói? É preciso haver um? A corda é içada. Ricardo a segura, mas não dá tempo de se amarrar. Impossível não reprisar o fato e lamentar de que foi tarde demais, de que foi por pouco, foi por segundos. À uma e dezessete da manhã do primeiro de maio de 2018, o edifício Wilton Paes de Almeida vem abaixo. Desaparece em treze segundos. Uma bola de fogo sobe quarenta metros no ar. No lugar do prédio de 26 andares resta agora uma pilha de escombros e sabe-se lá quantos corpos perdidos no meio. Ao longo dos treze dias seguidos de busca, sete foram encontrados, óbvio que mortos. É o que se sabe de vítimas fatais dessa tragédia com culpados: sete pessoas morreram e duas ainda estão desaparecidas. Seus nomes, quem foram e o que deixaram de legado neste mundo do cão importam tão pouco que quantos de vós perderão tempo recordando esta tragédia anunciada?
O fato é que na madrugada do dia primeiro de maio de 2018, uma terça-feira, dia internacional do trabalhador, o edifício Wilton Paes de Almeida pegou fogo e desabou no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Sete pessoas morreram e duas ainda estão desaparecidas, segundo os dados oficiais. Os moradores acreditam que o número de vítimas é bem maior e que o poder público pouco se empenha em localizar os desaparecidos. Na época da tragédia, estimou-se em 49 o número de desaparecidos com base em registros de boletins de ocorrência, mas como ninguém sabe ao certo quantas pessoas residiam no prédio, esta estimativa depois foi desconsiderada pelas autoridades.
Outros dois edifícios foram atingidos pelo incêndio e interditados pela Defesa Civil. O teto da igreja luterana Martin Luther ao lado desabou. A operação de resgate durou 13 dias e contou com 1.700 bombeiros e 57 caminhões. Só um corpo foi encontrado: o de Ricardo Oliveira Pinheiro. As outras seis vítimas foram identificadas no IML por meio de análise do DNA dos seus restos mortais. A limpeza dos escombros durou 58 dias durante os quais foram recolhidas seis mil toneladas de entulho. O local hoje está abandonado.
Por três meses 37 famílias acamparam no Largo do Paissandu à espera de acolhimento nos abrigos municipais. E quando a vaga surgia, muitas, com receio de serem separadas dos filhos, optaram por continuarem acampadas sobrevivendo de doações. Neste meio-tempo, por ordem da justiça a Prefeitura foi obrigada a montar instalações sanitárias na praça. Um mês depois do desabamento, a moradora Jackeline Silva Moraes entrou em trabalho de parto dentro da sua barraca. O bebê nasceu morto na viatura dos bombeiros a caminho da Santa Casa de Misericórdia. Era uma menina e iria se chamar Rafaela Vitória. O exame pré-natal dava conta de que o bebê estava perfeitamente saudável.
O acampamento foi desmontado, mas ainda hoje se encontram antigos moradores do prédio vivendo nas ruas do Largo do Paissandu. Muitos reocuparam outros prédios no centro de São Paulo na esperança de um dia serem contemplados com a moradia definitiva.

A verdadeira causa do incêndio corre em segredo de justiça. Na época, a hipótese mais ventilada foi a de um curto-circuito numa tomada no quinto andar que ligava microondas, televisão e geladeira. Neste quarto viviam um casal e seus dois filhos – um de três anos e um recém-nascido. O pai e o filho de três anos sofreram queimaduras graves, mas todos os quatro sobreviveram. A reportagem não conseguiu localizá-los.
A Polícia Científica concluiu que o incêndio poderia ter sido evitado se medidas de segurança tivessem sido tomadas. O prédio era público e estava ocupado pelo Movimento de Luta Social por Moradia (MLSM). Água e luz eram improvisados. Havia muita fiação solta, entulho acumulado, infiltrações nas paredes e tapumes como divisórias entre os quartos. Mas esses fatores só explicam a facilidade com que o fogo se espalhou, e não como ele se originou. Como ou quem deu início ao fogo, já que houve suspeita de incêndio criminal, foi o que o inquérito instaurado no 3º DP da Santa Ifigênia apurou, indiciando ao fim, cinco meses depois, três líderes da ocupação por incêndio qualificado.
O inquérito, porém, retornou à delegacia em 2019 com o pedido de perícias complementares, cujos laudos foram remetidos ao Ministério Público de São Paulo. O MP/SP denunciou os três indiciados e mais três engenheiros municipais – todos por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A justiça acolheu a denúncia. O julgamento ainda não tem data definida. Os réus alegam inocência e respondem em liberdade.
O Edifício

Conhecido como “prédio de vidro”, o edifício Wilton Paes de Almeida foi projetado em 1961 pelo arquiteto modernista Roger Zmekhol e tombado pelo Conpresp em 1992. Nos anos 1990, chegou a abrigar a sede do INSS e da PF em São Paulo. Vinha sendo ocupado irregularmente desde 2003, quando já pertencia à União. Tinha 24 andares, mas era habitado só até o décimo, pois não havia elevadores.
Em 2015, foi lançado um edital para venda do bem. O valor esperado era de R$20 milhões. Antes do edital, porém, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), vinculada ao Ministério da Economia, havia cedido o prédio à Prefeitura de São Paulo, que aguardava a transferência definitiva da escritura para iniciar obras no imóvel. A intenção da Prefeitura era instalar nele a Secretaria de Educação e Cultura.
Como o edifício já vinha sendo ocupado desde a cessão da União à Prefeitura, a responsabilidade por ingressar com ação de reintegração de posse recaía sobre ambas as instâncias – federal e municipal. Porém, os dois órgãos, SPU e Secretaria Municipal de Habitação, preferiram, em vez de pedir a reintegração, negociar uma saída amigável com os moradores.
Em visita ao local, quando os bombeiros ainda apagavam o rescaldo do incêndio ao fundo, o então prefeito Bruno Covas (PSDB) disse que não era o momento de procurar culpados e sim de atender os desabrigados, mas ressaltou que a Prefeitura não podia ser responsabilizada porque só naquele ano (2018), “tivemos seis reuniões com os moradores para negociar a saída do local, ocasiões em que deixamos claro que o prédio era inseguro para moradia”.
O então presidente Michel Temer (PMDB) também esteve no local e foi hostilizado, tendo de sair de lá escoltado. À tarde, o governador Márcio França (PSB) afirmou que o prédio não tinha “condição alguma” de ser habitado e que o que aconteceu fora uma tragédia anunciada. Ele atribuiu parte da culpa às ações do Ministério Público e da Justiça no sentido de impedir remoções em moradias irregulares.
Rogério Balechi, morador vizinho, denunciou as condições da ocupação ao Ministério Público Estadual (MPE/SP), que chegou a abrir inquérito civil em 2015 para apurar se o imóvel oferecia risco iminente – e por um breve período chegou a ser interditado antes de ser reocupado.
Relatório da Secretaria Municipal de Licenciamento, de janeiro de 2017, apontou que o prédio não tinha condições mínimas de segurança contra incêndio. No entanto, vistoria posterior da Defesa Civil constatou que a edificação não apresentava risco estrutural que justificasse a interdição, e com base nisso o inquérito civil foi arquivado pela Promotoria de Habitação e Urbanismo do MPE, à época sob o comando do promotor Reynaldo Mapelli Júnior, que não quis comentar o assunto. Horas depois da tragédia, o MPE reabriu a investigação.
O terreno hoje está em posse da Prefeitura, que firmou compromisso de construir habitações populares no local, sem, contudo, priorizar as famílias que nele viviam antes do desabamento. A distribuição das futuras unidades seguirá a fila regular da Secretaria de Habitação. Isso contraria o artigo 14 da Lei nº 12.608/2012 – Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, segundo o qual “os programas habitacionais da União, dos Estados e dos Municípios devem priorizar a realocação de comunidades atingidas em áreas de risco”.
Vítimas

É impossível apontar a quantidade exata de pessoas que residiam no Wilton Paes de Almeida. Havia uma lista informal dos próprios moradores, em geral desatualizada pela rotatividade comum às habitações irregulares. Após a tragédia, 435 famílias se apresentaram como moradoras, das quais 291 conseguiram efetivamente comprovar o vínculo com a ocupação, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que inclusive se valeu deste critério para conceder o benefício do auxílio-aluguel aos desabrigados. Nos cálculos da Prefeitura, portanto, 291 famílias, algo próximo de 900 pessoas, viviam no Wilton Paes de Almeida.
Este número, porém, parece estar subestimado. Relatos dão conta, por exemplo, de um contingente razoável de estrangeiros residindo no prédio – alguns moradores falam em 10% do total – sobretudo peruanos e bolivianos que trabalhavam nas oficinas de costura do Brás. Nenhum auxílio-aluguel foi concedido a estrangeiros.
O Consulado do Peru em São Paulo prestou assistência legal a dois peruanos. Mas esses foram só os que procuraram ajuda do Consulado para fins de documentação. A peruana Gredy Canaquiri Yume afirma ter tido como vizinhos vários compatriotas que depois do desastre sumiram. O Consulado Boliviano não tem o registro de quantos cidadãos bolivianos viviam ali. A ONG Conectas Direitos Humanos, que auxilia migrantes e refugiados em questões jurídicas no Brasil, também não sabe dizer quantos deles habitavam o Wilton Paes de Almeida. Ninguém tem registro dessas pessoas.
O edifício não caiu do nada. O incêndio durou vinte minutos antes de consumir as estruturas e o prédio vir abaixo. A maioria dos moradores teve, portanto, algum tempo para evacuar, sem o qual, em vista do tamanho da tragédia, o número de vítimas era de se esperar que fosse maior, como garantem os moradores ter sido, a despeito da contagem oficial que dá como sete o total de mortos.
A primeira e única vítima identificada pelos Bombeiros foi Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, 39. Ricardo teve tempo de subir e descer três vezes o prédio em chamas em socorro aos vizinhos. No que retornou pela quarta vez para resgatar outros moradores, ficou preso ao fogo. Do alto da escada do caminhão de Bombeiros, o sargento Diego Pereira da Silveira lançou a corda na qual Ricardo tentou se amarrar e não conseguiu, dependurado na janela do nono andar, instantes antes do prédio ruir. “Foi questão de segundos”, o sargento lamenta. “Acho que mais trinta segundos e nós o teríamos salvo”. O corpo de Ricardo foi encontrado nos escombros três dias depois, no final da tarde de 04 de maio, sexta-feira. Continha dilacerações decorrentes da queda, mas nenhum sinal de queimadura. Foi prontamente reconhecido por conta das muitas tatuagens.
Seus amigos próximos, Fernando Delfino e Silva e Fábio Henrique Dias Ribeiro, lembram dele como um rapaz sorridente que andava pra lá e pra cá de patins, seu hobby. No trabalho, fazia de tudo um pouco: foi eletricista, pintor, entregador, lustrador de automóvel e ultimamente ajudava a carregar e descarregar mercadorias na 25 de março. Tinha sete filhos e morava sozinho no nono andar do Wilton Paes de Almeida.
Ricardo tinha voltado para ajudar Selma Almeida da Silva, 41, e seus filhos gêmeos, Wendel e Werner, 10, que moravam no oitavo andar. No dia 8 de maio, oitavo dia de busca, os bombeiros encontraram os ossos que viriam a ser identificados no IML como sendo dos gêmeos. Naquele mesmo dia foram encontrados os restos de um segundo homem, Francisco Lemos Dantas, 56. Até o término da operação, uma semana depois, Selma e outros dois homens – Alexandre Menezes, 40, e Valmir Souza Santos, 47, foram incluídos na contagem final dos sete mortos.
Selma morava no Wilton Paes de Almeida havia dois anos. Deixou duas filhas, Kelly e Itacira, na companhia da mãe, Dona Romelita, na sua cidade natal de Baiana do Riacho, na Bahia, para onde pretendia retornar um dia depois que juntasse dinheiro em São Paulo, onde vivia desde os 18 anos trabalhando como auxiliar de limpeza e catadora de material reciclável. Seu ex-marido e pai de Kelly, Antônio Ribeiro Francisco, 42, propôs se juntar aos Bombeiros na escavação. Ele informou ao comandante que tinha conversado na noite anterior com Selma e que ela então lhe disse que estava cansada e dormiria no prédio. “Por isso tenho certeza que ela e os garotos estão aí no meio dos escombros. Não tenho esperança. Já comuniquei o pior à Dona Romelita na Bahia”.
Não se sabe ao certo se as outras seis vítimas, ao contrário de Ricardo, morreram carbonizadas antes da queda, ou se, assim como ele, morreram em decorrência da queda. Delas só foram encontrados os restos. E, ao contrário dele, ninguém as viu sair do edifício durante o incêndio. Se ficaram presas desde o início, acordadas com o fogo no quarto, é mais provável que tenham morrido queimadas, o que justificaria Ricardo ter desistido de resgatar Selma e os gêmeos, se já estivessem mortos, para tentar se salvar. Na sua vez de ser resgatado, Ricardo estava sozinho no nono andar, não no oitavo, no andar de Selma e dos gêmeos.
Além dos sete mortos identificados, duas pessoas permanecem desaparecidas: Gentil de Souza Rocha, 53, e Eva Barbosa da Silveira, 42. Eva trabalhava como auxiliar de limpeza na empresa terceirizada Gramaplan. Procurada pela reportagem, a Gramaplan não forneceu informações sobre a funcionária e disse não ter sido procurada por nenhum órgão investigativo.
Na ausência de provas materiais que confirmem que Eva estava no prédio quando ele desabou, é impossível afirmar com certeza se ela está morta. Para a filha Edivânia Silveira Vieira, 23, ela está. Edivânia morava com Eva na ocupação, mas naquele dia estava em viagem fora de São Paulo. Três anos após a tragédia, ela aguarda a declaração de morte presumida da mãe e que o Estado ainda não se prontificou a emitir.
Saiba mais em: https://outraspalavras.net/cidadesemtranse/sob-escombros-de-um-colapso-anunciado/