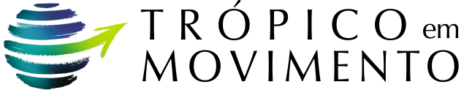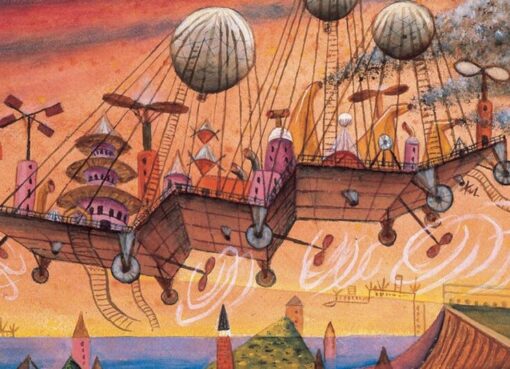Como defendem os “cibercomunistas”, a “IA” poderá cuidar do planejamento estatístico necessário ao atendimento das necessidades básicas da futura sociedade comunista, mas a todo instante terá de lidar com os “ruídos” que essa sociedade de homens e mulheres livres e educados para serem criativos vão lhe desafiar.
Por: Marcos Dantas | Crédito Foto: Montagem sobre ilustração de Linn Fritz
Recentemente, Jacobin Brasil publicou um artigo do grupo marxista CibCom intitulado “Por um programa cibercomunista“. O artigo propunha uma reflexão sem dúvida necessária: aplicar os avanços teóricos e tecnológicos da Cibernética à elaboração de um novo e atual programa de construção de uma sociedade comunista. O artigo, porém, contém um vasto conjunto de problemas epistemológicos e teóricos que, se levados à prática, reduziriam o programa comunista a um projeto que se resolveria por mera aplicação de matemática estatística à resolução dos problemas de produção e distribuição dos recursos necessários à vida social. Isso porque, em primeiro lugar, o artigo reduz o pensamento cibernético às elaborações cartesianas de seus primeiros formuladores, citando nominalmente Claude Shannon, Norbert Wiener e William R. Ashby, ignorando a crítica que essas elaborações receberiam, num segundo momento, de autores como Gregory Bateson ou Henri Atlan, entre outros, justo porque estes perceberam as limitações lógico-formais daqueles. Em segundo lugar, a partir daí, o artigo expõe o pensamento de economistas marxistas, a começar por Oskar Lange, que sugerem como poderia funcionar uma “sociedade comunista”, totalmente planificada, nisto aplicando a mesma lógica formal de Shannon ou Ashby.
Não por acaso, os economistas citados viveram nos tempos da União Soviética e suas periferias. As soluções propostas são tecnocráticas, ignorando todo um amplo conjunto de necessidades humanas que não serão atendidas por simples cálculos estatísticos de “entradas” e “saídas”. Sobretudo, o debate proposto por CibCom ignora a natureza existencial da informação, como sublinharia o filósofo marxista brasileiro Álvaro Vieira Pinto, daí a dimensão criativa que deverá ter alguma futura sociedade comunista, princípio este que entra em contradição com qualquer modelo que pretenda obter “equilíbrio” entre a “entrada” e a “saída”. A “saída” será sempre mais rica do que a “entrada”. Justo o contrário do que estabelecem os modelos cibernéticos de Shannon, Wiener ou Ashby.
Motivado por esse texto, me dispus a escrever este artigo que ora apresento aos leitores e leitoras. O tema da abordagem dialética da informação me interessa há cerca de 30 anos, tendo sido objeto de minha dissertação de mestrado e tese de doutorado, na década 1990. Escrevi não poucos artigos científicos sobre o assunto, embora raros livros . [1] O que se segue é uma síntese dessa abordagem, aqui e ali em diálogo crítico com o artigo da CibCom, mas numa linguagem um tanto informal de modo a torná-lo mais acessível e compreensível. Não é um assunto fácil pois envolve conceitos físicos, químicos, biológicos, além dos antropológicos ou sociológicos. Porém, hoje em dia, conhecer e assumir o conceito ontológico e dialético de informação será essencial para compreendermos o capitalismo realmente existente em que vivemos, e as condições para superá-lo – se possível.
1. Bases epistemológicas e teóricas
Imaginemos um animal predador: leopardo, leão, guepardo… Diante dele, na savana, está o fundo do céu numa cor que nós, humanos, denominamos “azul” e o fundo geral “esverdeado” da vegetação. Mas a retina e órgãos nervosos ligados à sua visão estão focados em buscar algumas específicas frequências de luz em tonalidades “amarronzadas” que, para ele, recortam, contra aqueles fundos, uma forma que sua estrutura genética, produto de milhões de anos de evolução, reconhece como “alimento” ou, melhor, fonte de energia. Nesse mesmo movimento, outros órgãos de sentido (audição, olfato, tato) também estão simultaneamente selecionando e recortando frequências ou gradações de matéria-energia que lhe orientam na direção da fonte de energia: sons específicos e não qualquer ruído de fundo; moléculas odoríficas específicas e não cheiros em geral; a direção da brisa… O processamento e sintetização, na matéria do seu cérebro, dessa matéria-energia selecionada e captada em seu ambiente, orientará o animal na direção da caça, acionando outros sistemas de seu corpo para correr, saltar, agarrar a sua vítima, assim efetivando a sua finalidade que, no limite é uma só, permanecer vivo. A caça, por sua vez, igualmente processando na matéria do seu cérebro frequências e gradientes de matéria-energia que capta e recorta no seu ambiente pelos seus sentidos, também buscará permanecer viva, para isso correndo, saltando, tentando não se deixar agarrar.
Esses segmentos selecionados de matéria-energia que põem os seres vivos em relação com o ambiente e, nessa relação, os põem em movimento com a finalidade de se manterem vivos, essa matéria-energia assim posta nessas formas que orientam a ação, é informação.
Esse conceito de informação relacionado à organização do ser vivo desenvolveu-se no século XX. Sua formulação pioneira, embora sem adotar explicitamente a palavra “informação”, deve-se ao biólogo marxista russo Alexander Bogdanov (1873-1928) que elaborou todo um sistema teórico dialético, por ele denominado Tectologia, [2] que teria sido antecedente e precursor da Teoria Geral dos Sistemas, de Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) e da Cibernética de Norbert Wiener (1894-1964), não tivesse sido duramente (e equivocadamente) criticado e rejeitado por Vladimir Lênin (1870-1924). Por isso, acabaria nascendo no Ocidente, conduzido pelo pensamento lógico-formal cartesiano e, não pelo lógico-dialético, todo um novo campo de saber para explicar fenômenos e processos que seriam identificados à informação.
Conforme as leis físicas da termodinâmica, formuladas no século XIX, todo sistema no qual a energia está desigualmente distribuída tende a um estado de crescente equilíbrio ou, dito de outro modo, à crescente perda da sua capacidade de fornecer trabalho. Isto explicaria, teoricamente, porque uma máquina precisa ser continuamente realimentada de alguma fonte combustível, ou pararia de funcionar; ou porque, numa sociedade industrial em expansão, é necessário estar sempre buscando novas fontes de combustível, ou todas as máquinas, mais cedo ou mais tarde, parariam. A este processo da matéria em permanente movimento, os físicos denominam entropia. Um animal em aparente repouso não deixa de estar trabalhando (no sentido físico) pois seus sistemas interiores – digestivo, respiratório, sanguíneo etc. – seguem consumindo a energia acumulada em seu corpo. A “fome” é o sinal que sua taxa de entropia começa a alcançar um grau que lhe demanda sua realimentação energética. Ou, assim como a máquina, seu corpo também vai parar.
Por isto, perceberam os cientistas, a vida parece desafiar essas leis. O ser vivo não somente é capaz, pela sua própria constituição endógena, de buscar se reabastecer de energia, como pode se reproduzir, crescer e evoluir, ou seja aprimorar, até modificar, via seleção natural, a sua estrutura orgânica. Ainda que, por óbvio, os indivíduos um dia morram, cada indivíduo tem uma fase da vida durante a qual acumula e aprimora a sua capacidade de fornecer trabalho. As máquinas, não: uma vez construída por seres humanos, a máquina fornecerá trabalho por alguns anos até começar a dar mais problema do que solução, e precisar ser substituída. Karl Marx sabia muito bem o que estava escrevendo, quando distinguia trabalho vivo (humano) de trabalho morto (máquinas, instalações), ainda que não pudesse ter, no seu tempo, um conceito claro de informação à sua disposição.
Até meados do século XX, a palavra informação, em si, confundia-se com “notícia”, “saber de algo”, significados semelhantes. Ganha status científico com as teorias de Claude Shannon (1916-2001), Norbert Wiener, William Ashby (1903-1972), elaboradas durante a Segunda Guerra Mundial e divulgadas no imediato pós-Guerra. A relação dessa então novel ciência com as condições de guerra não pode ser ignorada, como parece no artigo da CibCom: ela buscava resolver problemas de engenharia próprios da indústria bélica e de comunicações. Daí estar “naturalmente” condicionada pelo raciocínio matemático, cartesiano, positivista, lógico-formal, raciocínio esse que, ainda conforme o mesmo artigo, não parece ter sido sequer percebido e criticado por Oskar Lange e outros autores citados por CibCom. A idéia, porém, que a informação pudesse ser “matematizada” e, nessa condição, pudesse servir teoricamente para o desenvolvimento da nova indústria de computadores, servomecanismos e “inteligência artificial”, estimulou debates e pesquisas em muitas outras áreas de conhecimento, inclusive nas ciências sociais e na linguística. No entanto, essa apropriação da teoria original nessas outras áreas logo revelaria as limitações dessa mesma teoria, resultando em novas formulações que entraram para a história com o nome de “segunda cibernética”. [3]
A teoria de Shannon, para funcionar concretamente no mundo das máquinas, propunha um modelo para filtrar, reduzir, se possível, eliminar “ruídos”. A própria palavra por ele escolhida (“noise“, em inglês) fazia sentido na engenharia de telecomunicações: para que duas pessoas possam bem conversar ao telefone ou muitas pessoas possam bem ouvir uma transmissão de rádio, é necessário reduzir ao máximo os ruídos físicos inevitáveis. Mas no mundo da comunicação do ser vivo, o “ruído” é não apenas inevitável como, não raro, essencial à sobrevivência: a percepção sonora de um movimento estranho no mato pode ser a diferença, para a caça, entre correr a tempo e salvar a vida, ou não correr e virar comida… Nós humanos, no nosso cotidiano urbano, estamos cercados de “ruídos” de toda ordem, muitos deles literais. Aprendemos a conviver com eles, filtrando, isto é, não dando atenção, àqueles que só “perturbam” e, de algum modo, reagindo positivamente aos que parecem trazer alguma novidade interessante. Por se mostrar essencial à sobrevivência e aprendizagem, o biólogo francês Henri Atlan (1931 -) vai desenvolver o princípio da “organização pelo ruído”, numa crítica direta, ainda que muito elegante, ao formalismo shannoniano. [4] O ser vivo age no seu ambiente, selecionando os “ruídos” necessários à sua sobrevivência e aprendendo com os acertos e erros de suas ações. Como essa aprendizagem se dá durante cada ação e durante toda a vida, a quantidade de informação assim produzida será função (matemática) do tempo empregado em cada ação, acumulando-se ao longo do tempo de vida. Atlan constrói um modelo matemático para calcular a informação calcado numa equação diferencial que, assim, considera o tempo e a história, no lugar da equação bayesiana atemporal e ahistórica de Shannon.
A teoria de Shannon, filtrando o “ruído”, pretende que a mensagem introduzida por uma fonte num canal de comunicação, alcance o receptor sem “erros”. Ou seja, a mensagem na saída deve ser igual à mensagem na entrada. Nessa relação, nada se cria – ou, se algo se cria, terá sido a partir da “fonte”, sem que o assim chamado “receptor” possa intervir no processo. De novo, sempre lembrando, trata-se de um modelo lógico válido no seu campo de aplicações: engenharia de sistemas maquínicos. Na comunicação biológica, por extensão na social humana, o modelo não pode funcionar porque, em primeiro lugar, para que haja essa relação entre “fonte” e “receptor” é necessário que este assim dito “receptor” esteja interessado, motivado, a escutar, ou a saber, o que a assim chamada “fonte” terá a dizer ou fazer. A gazela na mira da leoa está, por óbvio, muito interessada em “conhecer” as intenções da caçadora e por isso mantém todo o tempo as suas orelhas em pé, o seu olfato antenado, os seus músculos prontos a disparar ao primeiro “ruído” diferente, isto é, à manifestação de alguma frequência sonora que se destaque no meio à profusão de sons em que está naturalmente envolvida, indicando “perigo”. Como definiu Gregory Bateson (1904-1980), informação é “qualquer diferença que gera uma diferença em algum evento posterior”. [5] É necessário ocorrer algum evento diferente para alguma ação nova acontecer. Se nada acontece, a leoa continua dormindo e a gazela continua pastando… A “saída” não pode ser igual à “entrada” como pretenderiam os modelos desenvolvidos pelos economistas citados no artigo do CibCom. Sublinhe-se: não se trata de algum “desejo” do autor deste artigo, trata-se da natureza da informação. Temos que saber lidar com isso!
Nessa relação, quem é “fonte”, quem é “receptor”? Qual “mensagem” fará caçadora e presa se moverem?
A “segunda cibernética” responde a essas perguntas afirmando:
1) a relação comunicativa se dá entre pólos comunicadores, negando o dualismo cartesiano que distingue “fonte” e “receptor” como se fossem “sujeito” e “objeto” distintos;
2) a mensagem ou mensagens não é aquela “isolada” num canal mas aquela estabelecida interativamente entre os pólos, em função dos “ruídos” ou “diferenças” que mutuamente afetam suas ações recíprocas.
Se o leitor dessas linhas conhece algo de dialética, entendeu onde chegamos…
Ao modelo atomista linear de Shannon, a “segunda cibernética” sugere uma alternativa sistêmica que nos remete à totalidade (também categoria dialética básica), conforme a figura 1, extraída de um dos formuladores dessa abordagem, Anthony Wilden [6]:
Retornando ao exemplo do primeiro parágrafo deste item 1, “variedade” seria todo o conjunto ambiental que pode ser mais ou menos percebido pelos sentidos daqueles animais na savana, até o limite onde seus sentidos alcançam. “Ruído” refere-se ao subconjunto de todos eventos energéticos-materiais aos quais os sistemas orgânicos daqueles animais podem e devem dar atenção em seus processos de sobrevivência e reprodução. “Informação” é aquele subconjunto do subconjunto de matéria-energia selecionado por algum animal ou grupos de animais em cada momento de alguma ação, isto é, no tempo da ação. Porque percebida pelos sentidos, a informação adquire muitas formas, desde sinais orientadores, como cores e sons para o geral dos animais, até signos humanos formando palavras e linguagem. Na espécie humana, a informação assume as mais diversas formas semióticas: linguagens orais ou escritas, gestos, imagens, ferramentas, mercadorias, etc. Assim como percebemos a energia através de suas muitas formas (frequências luminosas ou sonoras, temperatura, força ou peso, choques elétricos etc.), também não percebemos, propriamente, “a” informação mas sim as formas que essa particular manifestação de matéria-energia pode tomar para os sentidos e, daí, no caso humano, para a nossa consciência.
Cada espécie viva, na terra, no mar ou no ar, planta ou animal, está apta a identificar um amplo espectro de “ruídos” e não identificar outros. Nós humanos, por exemplo, não somos aptos a captar as frequências do ultrassom, uma habilidade, porém, de morcegos e golfinhos. Tubarões e outros peixes podem se orientar por campos de eletricidade, campos estes não perceptíveis pelos mamíferos terrestres. O espectro de cores não é o mesmo para primatas ou felinos, muito menos para as abelhas. Portanto, o “ruído” será distinto para os diferentes seres vivos em função de seus processos evolutivos e adaptações ambientais, logo a informação que, ao fim e ao cabo, orienta as ações dos seres vivos, também será distinta para cada classe ou ordem. Como a “variedade” só pode ser percebida por via dos sentidos, a realidade não pode ser a mesma para cada classe ou ordem de ser vivo, dadas suas condições ontogênicas de agir em seus respectivos ambientes. Pode haver mais realidade entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia…
Essa exposição, até aqui, resume e sintetiza teorias e conceitos de um amplo conjunto de autores ou autoras, convergentes em seus aspectos básicos, alguns já referenciados acima. Entre outros, citemos, na Física: Léon Brillouin (1889-1969), Heinz von Foerster (1911-2002), Ilya Prigogine (1917-2003). Na Biologia: Jacques Monod (1910-1976), Henri Atlan, Henri Laborit (1914-1995). Na Antropologia e Psicologia: Gregory Bateson. Na Filosofia: Álvaro Vieira Pinto (1909-1987) e Isabelle Stengers (1949- ), coautora de muitas obras essenciais com Prigogine. Uma “teoria geral”, se pudermos dizer assim, apoiada na dialética de Hegel e com explícitas referências a Marx, foi elaborada por Anthony Wilden (1935-2019), em System and Structure [7] e The Rules are no Game [8]. Além de Bogdanov, pode-se afirmar, sem medo de errar, que o pensamento dos marxistas Mikhail Bakhtin (1895-1975) e Lev Vygotsky (1896-1934), porque dialéticos, convergem e dialogam positivamente com essa teoria.
2. Informação: existencial do ser humano
Até aqui, busquei não “antropomorfizar” o conceito de informação mas entendê-lo como uma dimensão do mundo material, particularmente da matéria viva. A matéria-energia tende à dissipação entrópica. Mas certos sistemas, em especial os biológicos, são constituídos de matéria-energia organizada que, para permanecer organizada, deve resistir ao processo da entropia. Para tal, organizam a matéria-energia à sua volta, dela retirando a energia necessária à recuperação e sustentação das suas condições de fornecer trabalho. A este movimento, chamamos informação. Os sistemas que podem agir produzindo informação, são ditos neguentrópicos, palavra cunhada por Léon Brillouin, o primeiro a demonstrar, nos termos do formalismo da Física, essa possibilidade. [9]
Desde a primeira molécula bioquímica primordial, há bilhões de anos, até o ser humano contemporâneo, a informação molda e é moldada pelo ser vivo. Evolui com ele, e ele com ela, numa relação intrinsecamente dialética. O espantoso, assim considerando, é tão pouco, ou quase nada, os teóricos que se consideram dialéticos terem se disposto a pensar a informação e daí retirar as consequências políticas e sociais devidas. Uma notável exceção, no Brasil, é o filósofo Álvaro Vieira Pinto cuja principal obra sobre o tema, infelizmente, só veio à luz em 2005, quase 30 anos após sua morte. [10] Antes tarde do que nunca…
O artigo do CibCom, porém, poderia contestar esta minha afirmação. Cita vários autores de linhagem marxista, inclusive Georg Klaus, que teriam se empenhado em dar tratamento dialético à teoria da informação e à Cibernética. De fato, depois de forte resistência inicial, entendida como “ciência burguesa”, a Cibernética precisou ser adotada na União Soviética e países sob sua influência, sob risco de derrota na competição industrial e militar com o Ocidente. [11] Essa adoção, porém, talvez porque seu objetivo fosse principalmente tecnológico, não aprofundou a crítica ao formalismo lógico de Shannon ou Wiener, apenas o revestiu de um discurso aparentemente dialético. Vieira Pinto fará fortes críticas a Klaus e a outros pensadores do Leste europeu sobre as quais, nas dimensões deste artigo, não podemos nos estender.
Assim como qualquer outro animal, a informação é constitutiva do ser humano e da sua relação com seu ambiente natural e social, ainda que somente há pouco mais de meio século a palavra tenha passado a frequentar o debate acadêmico e, no seu significado vulgar, as conversas cotidianas. Todas as sociedades humanas sempre foram “sociedades da informação”. O indígena que faz um chá a partir de uma planta para tratar alguma doença ou o cientista que combina moléculas químicas para produzir algum remédio que também tratará alguma doença, estão ambos captando, processando, comunicando informação. Cada um, certamente, nas formas, inclusive linguagem, que suas respectivas culturas elaboraram e instituíram nas suas condições sociais e ambientais de produção de seus meios de sobrevivência.
No ser humano, a informação incorpora, necessariamente, uma camada superior constituída por sistemas de signos que denominamos linguagem. Qualquer grupamento humano, mesmo algum que ainda viva nas mais próximas condições primevas de sobrevivência, possui não apenas uma língua sofisticada como também uma cultura, isto é, alguma forma semioticamente sistemática de, pela língua, descrever e entender o mundo que o cerca e os meios de agir nele. Na esfera biológica humana, a informação toma a forma de cultura, implicando dizer que, na esfera humana, a relação informacional entre os indivíduos na sociedade ou no seu ambiente natural é sempre mediada pelas muitas formas que toma a cultura; não pode ser, como no geral do reino vivo, imediatamente efetuada apenas pelo sensível da ação informacional mesma. Toda ação humana é imediatamente dotada de significados que se expressam através de “nomes”, “verbos”, “interjeições” etc., inclusive também nos gestos, ou seja, pelos movimentos de corpo.
Como qualquer animal, o ser humano busca sobreviver e se reproduzir. Diferentemente de qualquer outro animal, o ser humano produz conscientemente os seus meios de sobrevivência e, com eles, os recursos que precisa para seguir vivo. Organiza o ambiente em que vive, quase sempre o modificando; desenvolve técnicas e, com base nelas, tecnologias. Na humanidade, o trabalho adquire aquela qualidade especial, já apontada antes por Marx, de ser primeiro pensado, organizado em ideia no interior da matéria cerebral, para então ser executado pelo geral do corpo ajudado por suas próteses tecnológicas. É tudo informação, mas informação que se mostra para nós nas formas de linguagens, instrumentos, produtos efetuados ou a efetuar. Também projetos, sonhos…
Na produção da sua sobrevivência, o ser humano tem que se relacionar com a natureza, inicialmente, conforme as condições que a natureza lhe oferece. Dotado que foi, pela evolução natural, de um cérebro criativo, o ser humano ao mesmo tempo tanto se adapta ao meio quanto modifica esse meio. Adaptando-se e modificando, o ser humano desenvolve as técnicas e tecnologias necessárias para agir em seu meio. Álvaro Vieira Pinto sublinhará que, sob este aspecto, não haverá sociedade “mais avançada” ou “menos avançada” do que outras pois cada sociedade se mostra capaz de construir ou elaborar os meios que precisa para agir na natureza que a envolve, dela extraindo os recursos necessários à sua sobrevivência e reprodução.
Devido a muitos fatores que aqui não vem ao caso aprofundar, acontece que grupos sociais tenham, na relação com a natureza, de mobilizar uma tal dimensão de trabalho que os conduz à divisão do trabalho para além daquela sexual que seria, digamos, “natural”: o macho caça e defende o território; a fêmea cuida da casa e dos rebentos. Então, formam-se as sociedades de classe e os Estados. A partir daí, temos a História como a conhecemos.
Nas sociedades sem classes, as formas de informação necessárias à organização e à vida social estão livre e comumente acessíveis a todos os membros do grupo. Quase sempre, porém, pelas exigências das mediações culturais constituídas em tempos já perdidos nas névoas da evolução humana, esses grupos primevos praticam rituais que permitem ou legitimem o acesso de alguns de seus membros (os jovens, por exemplo) à totalidade da informação neles disponível, nas formas como cada cultura codifica e organiza essa informação. Ainda assim, algumas formas são consideradas exclusivas de indivíduos “iniciados”, situados em posição especial para a manutenção de algum tipo de “ordem” – os sacerdotes, curandeiros, pajés, ou similares, em geral.
Nas sociedades onde evolui a divisão em classes e se consolida o poder de um grupo sobre outros grupos, o acesso e organização da informação torna-se também determinado por essa divisão. Por exemplo: nasce a forma escrita (hieróglifos, cuneiformes, alfabetos, ideogramas etc.) mas somente a minoria no poder sabe ler e escrever. A imensa maioria trabalhadora permanece analfabeta, na oralidade. Com a forma escrita pode surgir a História – que será a história de quem sabe ler e escrever. Como informação é poder, a informação passa a servir ao poder. E o poder organizará meios eficientes de produzir e comunicar as formas de informação que lhe sirvam para exercitar… o poder. Persas e romanos construíam boas estradas e sistemas de correios montados em cavalos para atender às suas necessidades administrativas ou bélicas. No Egito dos faraós ou na China, ao longo de sua milenar história, organiza-se todo um sistema burocrático para registrar e comunicar os atos e decisões imperiais. No moderno capitalismo, desde a invenção e disseminação da telegrafia, no século XIX, até à nossa atual internet, um amplíssimo sistema eletro-eletrônico mundial de captura, processamento, registro e comunicação de informação, nas suas muitas formas, é desenvolvido e implantado para servir… ao capital. Logo, claro, ao colonialismo e ao imperialismo.
Como nos diz Vieira Pinto, a “informação, por natureza um existencial do homem, inalienável dele, entrou a exercer a função antitética de voltar-se contra o ser humano, convertendo-se em instrumento de alienação”. [12]
Essa divisão da sociedade em dois grupos informacionais – com ou sem poder – foi consagrada na literatura filosófica ocidental, desde os tempos dos clássicos gregos, como divisão de trabalho “intelectual” e “manual”. Marx e Engels, na Ideologia alemã, reafirmam essa divisão. Parece, então, que a evolução geral do ser humano, por milênios, nas sociedades agrárias escravocratas ou servis, é apanágio do grupo dominante pois ele não só produz, mas registra pela escrita, logo acumula de geração a geração, comunica de geração para geração, seus avanços no conhecimento administrativo, político, jurídico, científico, artístico, filosófico, religioso. Consagra sua visão de mundo. Mas em todas essas sociedades pré-industriais, são as classes dominadas que efetivamente detém o conhecimento para a produção: artesãos, camponeses, marinheiros, mestres de obra (não raro chamados de “arquitetos” ou “engenheiros”). Geralmente é um conhecimento empírico, tácito, não registrado em documentos, transmitido oralmente dos mais velhos aos mais novos pelo aprendizado nas próprias práticas do trabalho. Por ser um conhecimento do trabalho, é desprezado, desqualificado, pelos intelectuais que sistematizam e legitimam o conhecimento dominante. Como explica Vieira Pinto:
No homem, o trabalho físico não pode ser dissociado do intelectual. O homem em ação constitui um único organismo em funcionamento. Apenas por preconceito de classe, destinado a acentuar a inferioridade do labor físico, pode alguém julgar que o carpinteiro, ao pregar um prego, não está fazendo um trabalho tanto muscular quanto mental. A ação desse operário e de seus congêneres mostra-se mais rica que a dos estudiosos especulativos, já não falando dos sedentários burocratas, os quais, desinteressados da ação transformadora da realidade que suas elaborações mentais possam provocar, refugiam-se nas formas suaves e por isso menos cultas e rendosas, do esforço humano. O escravo nunca foi igual a uma besta de carga, e muito menos a uma máquina, porque sempre trabalhou simultaneamente com os braços e com o pensamento. Ao menos porque constantemente sabia estar fazendo um trabalho injusto e inadequado à sua condição de indivíduo racional. Essa simples reflexão, acompanhando permanentemente a obra manual que era forçado a cumprir, representa o consumo paralelo de energia mental, coisa que nenhuma verdadeira besta de carga jamais seria capaz de fazer. A proporção de trabalho intelectual, sempre reunido ao de caráter físico, explica, pelo quanto significa de compreensão de si por parte do trabalhador escravizado, a numerosa série de revoltas de escravos e servos, de que está repleta a história das sociedades escravistas e feudais. [13]
Ao longo da História, o assim chamado “trabalho intelectual”, desconectado da produção real, só pode ser especulativo: seu critério de verdade era essencialmente o rigor do método lógico. Sua grande referência, no Ocidente, será a filosofia de Aristóteles à qual a Europa cristã adjunta o pensamento de Tomás de Aquino (1225-1274). Com Galileu (1564-1642), Francis Bacon (1561-1626), Leibniz (1646-1716), Diderot (1713-1784), ainda muitos outros, conscientemente, acontecerá na Europa, na esteira da revolução industrial burguesa, uma autêntica revolução epistemológica que rejeitará aquela pesada herança aristotélico-tomista, pondo em seu lugar uma “nova Ciência” cujo critério básico de “verdade” passa a ser a experimentação prática; e a fonte fundamental de conhecimento, as atividades práticas dos produtores reais, os artesãos e trabalhadores nas oficinas, minas, construções etc., que essa Ciência se propõe a formalizar e modelizar. [14] Sublinhemos: essa Ciência que nasce na Europa nos séculos XVII a XIX, de onde se dissemina para o mundo, é, antes de mais nada, produto da afirmação dessa unidade do conhecimento humano com o trabalho. Trata-se de um ruptura realmente radical com toda uma tradição que atravessara 3 a 4 milênios de História, fosse na Europa, na China, na Índia, no mundo árabe, em todas as sociedades onde o conhecimento científico mais avançara, até então, em resposta às realidades concretas do ser humano. Em tempos recentes, estamos testemunhando se expandirem acriticamente “narrativas” que tentam esconder essa origem, substituindo-a por discursos ideologizados ahistóricos, no entanto coerentes com as condições atuais de uma sociedade capitalista que, negando suas origens, volta a desqualificar o trabalho, tanto objetiva quanto subjetivamente.
3. Informação e capitalismo
Arevolução industrial-tecnológica que se dá na virada do século XIX para o XX, quando são descobertos e industrializados processos físico-químicos de produção de materiais plásticos a partir do petróleo, de pigmentos artificiais de tintura, de transmissão da informação a distância através de frequências eletromagnéticas a cabo ou atmosféricas, e de produção e distribuição em larga escala da eletricidade, tanto permitindo substituir a caldeira a vapor pelo motor elétrico na produção industrial e nos transportes, quanto viabilizando a invenção e disseminação de máquinas de trabalho domésticas (geladeira, máquina de lavar, liquidificador, aspirador de pó etc.), essa revolução industrial-tecnológica fará surgir um conjunto de indústrias inexistentes nos tempos de Marx, seja nas suas dimensões, seja na organização do trabalho. É uma ruptura, porém, pouco percebida pelos pensadores e líderes marxistas à época que, no geral, pelo que lemos hoje em seus escritos, parecem entender aquelas “novidades” como mera evolução linear, contínua, do capitalismo oitocentista precedente. Na maior parte do século XIX, a “grande indústria” era a têxtil e a siderúrgica de ferro gusa. Por isso, não raro, Marx precisa buscar seus exemplos também em cervejarias, gráficas, olarias… No século XX, a “grande indústria” será a químico-petroquímica, a metal-siderúrgica do aço e alumínio, a farmacêutica, a automobilística, a eletro-eletrônica, sem esquecer as multinacionais do petróleo, todas fundadas na ciência teórica ou experimental, não na experimentação empírica da primeira revolução.
No que aqui nos interessa, expande-se, a partir desse período, o trabalho de escritório. Este era, até o terceiro quarto do século XIX, o trabalho efetuado diretamente pelo indivíduo capitalista no interior da sua firma, eventualmente ajudado por algum guarda-livros, contador, etc. Como o conhecimento para a produção era efetivamente detido diretamente no chão de fábrica, pelos trabalhadores “adultos”, como os denominava Marx, ou seja pelos mais experientes e qualificados, não existiam departamentos de engenharia, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, divisões de marketing ou diretorias financeiras e de pessoal… Tudo isso começa a se expandir no final do século XIX e vai ganhar enormes dimensões, em termos de geração de empregos e criação de perfis profissionais, a partir da primeira década do século XX. Corresponde ao nascimento e consolidação do assim chamado “fordismo”.
Esse trabalho é essencialmente de captura, organização, registro e comunicação de informação nas formas de projetos de engenharia, cálculos, desenho de produtos e processos, controles produtivos, análises financeiras etc. Ocupa (ou ocupava) milhões de pessoas, sobretudo nos países capitalistas centrais, industrializados, em atividades nas quais se utilizavam ferramentas, digamos, rudimentares: máquinas mecânicas de escrever ou calcular, réguas de cálculo, caneta, lápis, borracha, armários metálicos e pastas para arquivar organizadamente documentos, papel, muito papel… Durante cerca de meio século, esses departamentos puderam se expandir e consolidar métodos de trabalho que, no início, se mostravam os mais eficientes possíveis mas, com o tempo, começaram a revelar baixa produtividade, sobretudo se comparada à elevada produtividade já alcançada pelo trabalho industrial, no chão de fábrica. [15] Então, nascidas nos laboratórios da Segunda Guerra Mundial, apareceram as máquinas automáticas de tratamento e registro de informação. Não por acaso, as primeiras grandes empresas que se instalaram nesse promissor novo mercado eram as que já atendiam à demanda e consumo de material de escritório: IBM, Sperry, NCR, Olivetti etc.
Esse momento corresponde, também não por acaso, ao aparecimento e difusão daquela “teoria da informação”, motivo deste nosso debate. De repente, teóricos e ideólogos descobriram a “informação”! Por trás desses teóricos e ideólogos, estava o capital: a “informação”, isto é, a informação se posta em certas formas, poderia ser reduzida a mercadoria. Para isso, o próprio conceito precisaria ser também posto numa forma que permitisse naturalizar a mercadificação das relações informacionais. Aprendemos com Marx que mercadoria é trabalho “congelado” e o seu valor de troca é o tempo de trabalho vivo empregado na sua reprodução. A informação que, vimos, é uma relação constitutiva da vida em sociedade, precisará ser redefinida como “dados”, trabalho objetivado apropriável e trocável no mercado, para isso mensurável por fórmulas estatísticas, redefinição, parece, aceita também por Lange e outros economistas marxistas citados por CibCom. Definiu Marc Porat, um dos primeiros economistas mainstream a examinar essa nascente economia: “informação são dados que foram organizados e comunicados”. [16] Definiu Daniel Bell, um dos primeiros sociólogos a anunciar o nascimento da “sociedade da informação”: “por informação eu entendo o processamento de dados no sentido amplo; a estocagem, recuperação e processamento de dados tornou-se um recurso essencial para todas as trocas econômicas e sociais”. [17] Para essas definições arbitrárias, saídas do nada, as teorias de Shannon, Wiener ou Ashby se encaixavam como luva…
Escreveu Heinz von Foerster, um dos formuladores iniciais da “segunda cibernética”:
O que atravessa o cabo não é informação, mas sinais. No entanto, quando pensamos no que seja informação, acreditamos que podemos comprimí-la, processá-la, retalhá-la. Acreditamos que informação possa ser estocada e, daí, recuperada. Veja-se uma biblioteca, normalmente encarada como um sistema de estocagem e recuperação de informação. No entanto, isso é um erro. A biblioteca pode estocar livros, microfichas, documentos, filmes, fotografias, catálogos, mas não estoca informação. Podemos caminhar por dentro da biblioteca e nenhuma informação nos será fornecida. O único modo de se obter uma informação em uma biblioteca é olhando para os seus livros, microfichas, documentos etc. Poderíamos também dizer que uma garagem estoca e recupera um sistema de transporte. Nos dois casos, os veículos potenciais (para o transporte ou para a informação) estariam sendo confundidos com as coisas que podem fazer somente quando alguém os faz fazê-las. Alguém tem de fazê-lo. Eles não fazem nada. [18]
Informação não é estocável justo porque é trabalho em ação, trabalho vivo – “alguém tem que fazê-lo, eles não fazem nada”. Livros, sim, podem ser estocados e recuperados. Dados encontram-se nos livros… ou no disco rígido dos computadores. Daí que Norbert Wiener, em seu livro de divulgação da cibernética, publicado em 1948, também advertia, não porque fosse propriamente “anticapitalista” mas porque sabia das coisas:
Escrevo este livro principalmente para norte-americanos, em cujo ambiente os problemas da informação serão avaliados de acordo com um critério padrão norte-americano: como mercadoria, uma coisa vale pelo que puder render no mercado livre. […] O destino da informação, no mundo tipicamente norte-americano, é tornar-se algo que possa ser comprado ou vendido […] A capacidade de conservar-se a si própria é uma propriedade muito conveniente para uma boa mercadoria possuir […] A informação, por outro lado, não pode ser conservada tão facilmente […] Assim como a entropia tende a aumentar espontaneamente num sistema fechado, de igual maneira a informação tende a decrescer; assim como a entropia é uma medida de desordem, de igual maneira a informação é uma medida de ordem. Informação e entropia não se conservam e são inadequadas, uma e outra, para se constituírem em mercadorias [19]
Informação, assim como entropia, são conceitos que explicam a natureza em incessante movimento, as ações recíprocas dos estados da matéria. Informação, especialmente, só pode ser produzida quando dois ou mais pólos agem uns sobre os outros. Cessando a ação, cessa a informação. Ficam os “dados” ou, poderia dizer Marx, informação “morta”. Havendo a ação, a informação não “pertence” a este ou àquele pólo, mas é compartilhada por eles. Como diz João Caraça,
De fato, o processo básico da informação não é a troca, mas a partilha. Depois de uma ‘transação de informação’, ambas as partes detém a informação que foi objeto da transação […] O valor associado a tal transação deve portanto ser equacionado de um modo totalmente diferente. [20]
Na sociedade de classes ou havendo grupos que disputem recursos de sobrevivência entre si, será possível restringir o alcance de alguma relação informacional: é só garantir que a comunicação a respeito não possa atingir outros grupos ou indivíduos que naturalmente também saberiam tirar partido da mesma relação. Decreta-se o segredo, muito comum, em todas as épocas, nas comunidades místicas e religiosas. Em 1295, a República de Veneza proibiu, sob pena de morte, que algum artesão das ilhas de Murano se mudasse para alguma outra cidade visando assim impedir a comunicação para potenciais concorrentes, do segredo da produção artesanal de seus famosos copos e vasos de vidro.
Com o nascimento do capitalismo moderno, no século XVIII, nasce também a “propriedade intelectual”. Nos Estados Unidos e na Inglaterra é reconhecido a um inventor o direito de explorar comercialmente o seu invento, com exclusividade, por um período de tempo. Também passa a ser expressamente proibida a cópia ou reprodução, sem autorização, das obras artísticas. Considerando a natureza da informação, replicar uma máquina recém inventada ao custo apenas dos materiais e mão de obra empregados, seria algo elementar. Executar uma peça musical num teatro qualquer com base numa cópia da partitura original ou encomendar a alguém que reproduzisse fielmente um quadro de artista famoso para poder também exibi-lo na sua sala de jantar seria ainda mais fácil. O Estado, evoluindo com a nascente sociedade capitalista, interveio nesse mercado para não deixar a mão invisível da reprodução barata inviabilizar os emergentes negócios da invenção e da edição. Graças a essa intervenção, não poucos operários criativos e talentosos, a exemplo de Akwright (1732-1792), inventor de um filatório hidráulico; Robert Stephenson (1781-1848), inventor da locomotiva a vapor; Henry Maudsley (1771-1831), pioneiro das máquinas ferramentas, entre outros, tornaram-se milionários e personagens destacados na sociedade de seu tempo. No entanto, você não lerá em Marx nenhum comentário a respeito, embora aqui e ali, n’O Capital, ele não deixe de fazer referência ao conhecimento e engenhosidade dos trabalhadores de seu tempo.
A “propriedade intelectual”, sob o capitalismo liberal do século XIX, beneficiava o indivíduo e, também, a sociedade. A criação original se, por algum tempo, tornava alguém milionário, ao mesmo tempo, não podendo ser segredo, difundia socialmente um conjunto de conhecimentos que abria caminho para outras muitas criações. E como os criadores eram trabalhadores “manuais”, literalmente, talvez para Marx como para quaisquer outros dos seus contemporâneos fosse assim “natural” remunerar e recompensar o trabalho pelas suas criações.
Esse cenário muda durante a segunda revolução industrial-tecnológica. Os inventores de então não saíram das oficinas ou chão de fábrica mas tinham formação superior, conhecimento científico formal e aguda percepção de negócios a eles dada pela sociedade capitalista numa fase já mais madura. Não por acaso, a maioria, junto com suas novas indústrias, surge nos Estados Unidos: Thomas Edison (1847-1931), George Westinghouse (1846-1914), Alexander Graham Bell (1847-1922), Leo Baekeland (1893-1944), para citar alguns notáveis. Guglielmo Marconi (1874-1937), nascido na Itália, mudou-se para a Inglaterra, onde poderia explorar sua revolucionária invenção: a telegrafia sem fio, daí a radiodifusão. Essa nova geração de grandes inventores, de posse das patentes, se associa ao capital financeiro (J. P. Morgan, Lloyd Insurance) para levantar fábricas e redes de distribuição. Também “inventam” o laboratório industrial. “A maior invenção [de Edison] foi o laboratório de pesquisa industrial, cujo negócio era produzir invenções”, escreveu Norbert Wiener. [21] No laboratório, é assalariada uma nova categoria de trabalhadores igualmente produto das transformações em curso: o engenheiro industrial e outros perfis de formação científica. É-lhe exigido que procure sempre melhorar os produtos e processos com inovações “incrementais” e, de vez em quando, apresente à empresa alguma invenção algo “inédita”. Pelas leis da “propriedade intelectual”, esses empregados teriam direito às patentes das suas criações. Certo? Errado! Os empresários argumentam que eles já recebem seus salários para isso. As patentes pertencem às empresas. Nas primeiras décadas do século XX, travaram-se nos tribunais e também nas casas legislativas dos Estados Unidos e outros países, duras discussões sobre a quem pertenceriam esses “direitos”. Naturalmente, o lobby empresarial acaba vencedor. Leis são mudadas, jurisprudências são firmadas, o trabalho “intelectual” é derrotado, o capital sai vencedor. Essa história nos é contada em ricos detalhes pelo historiador marxista da tecnologia, David Noble. [22] Mas você não lerá, nos textos dos marxistas da época, nenhuma palavra a respeito. Este assunto fulcral da apropriação privada do conhecimento social pelo capital permanece ausente dos debates marxistas até hoje.
4. Apropriação privada da informação
Em 1962, o economista Prêmio Nobel Kenneth Arrow (1921-2017) publicou um artigo no qual discutia as condições de mercadificação da informação, nos termos paradigmáticos da economia neoclássica, referenciados a Léon Walras (1834-1910) e Vilfredo Pareto (1848-1923). [23] Arrow, um pensador liberal progressista, adotando o conceito shannoniano de informação, acusou o “paradoxo” que seria algum agente econômico se apropriar de algum “bem informacional”, já que nos termos paretianos, que remetem ao fundador da escola neoclássica,William Jevons (1835-1882), o funcionamento “ótimo” do mercado se baseia no livre e equitativo acesso à informação por parte de todos os agentes. Em linguagem matemática, a informação será uma constante neutra. Além disso, entendia Arrow, como, uma vez comunicada, a informação pode ser replicada a “custo marginal” no limite de zero, as leis de proteção à “propriedade da informação” teriam que ser muito complexas e custosas de aplicar para (quem sabe?) funcionarem efetivamente. Daí concluía
A alocação ótima à invenção iria requerer que o governo, ou algum outro organismo não dirigido por critérios de ganhos e perdas, financiasse a investigação e a invenção [24]
As idéias de Arrow foram combatidas pelo economista Harold Demsetz, em artigo de 1969, para quem a informação sempre poderia ter um preço e, assim, ser regulada conforme os princípios teóricos neoclássicos, se fosse transformada em “bem escasso” pelas leis de proteção à “propriedade intelectual”. Para ele, o uso ilegal de alguma informação proprietária seria um “roubo” como qualquer outro, passível de ser reprimido e punido…
A apropriação é, em larga medida, uma questão de arranjos legais e da imposição desses arranjos por meios privados ou públicos. Pode-se aumentar o grau de apropriação privada do conhecimento, elevando-se os castigos por violações de patentes e incrementando os recursos destinados à vigilância contra tais violações […] O problema do roubo é tão geral quanto o do azar moral e, se bem possam existir diferenças no custo para a redução dos roubos de vários tipos de ativos, não existe diferença em princípio […] Sempre se pode empregar um conjunto mais duro de penas para incrementar a apropriação do conhecimento. [25]
Não será necessário narrar aqui, em detalhes, como o programa defendido por Demsetz veio sendo ciosamente aplicado pelo capital, através do seu Estado, ao longo dos últimos 50 anos. Temos testemunhado e seguimos testemunhando o endurecimento draconiano das leis de “propriedade intelectual”, quase sempre a partir de formulações oriundas dos Estados Unidos que, também, atuam ativamente nos foros internacionais, inclusive pressionando até com ameaças de sanções os países periféricos, para adotarem leis e estruturas policiais que atendam aos avanços do capital nessa área. Uma das vítimas dessa agressiva política imperialista foi o Brasil que, sob o governo submisso de Fernando Henrique Cardoso, aprovou uma nova lei de patentes (Lei 9.279/1996) profundamente contrária ao que seriam os genuínos interesses da indústria e da sociedade brasileira.
Nesse mesmo período, alguma reação emergiu de certos segmentos da sociedade, também envolvidos diretamente com a produção e comunicação de informação, com destaque para os produtores de programas de computador (software) ou de música. Quando Arrow e Demsetz travaram sua discussão, as questões colocadas ainda pareciam um tanto teóricas. A primeira versão de sucesso de uma máquina Xerox acabara de ser posta no mercado. [26] Mas o capital enxergara que a saída para a crise kondratiefiana do fordismo nos anos 1970, eram as tecnologias digitais. [27] Um forte investimento do Estado e do capital financeiro permitirá, em poucos anos (1980-1990), o desenvolvimento de algumas tecnologias que, hoje, estão conspicuamente presentes em nosso cotidiano, a exemplo do minicomputador pessoal, da internet, do MP3, da televisão digital e, na base de tudo, do circuito integrado, ou “chip”. Com essas tecnologias, a reprodução e comunicação de qualquer informação a “custo marginal” no limite de zero, tornou-se absoluta realidade.
Para muitos jovens à época que, hoje, três ou quatro décadas depois, frequentam o imaginário mítico do capitalismo, a exemplo de Bill Gates ou Steve Jobs, abria-se uma nova estrada para o enriquecimento pessoal e para entrar na história como sendo os Edisons ou Marconis destes novos tempos. Para outros, ao contrário, imbuídos da ideologia anarcoliberal que emerge dos movimentos juvenis da década 1960-70, a informação a custo zero deveria continuar a ser informação a custo zero, em benefício do comum da sociedade: entre estes, o tecnólogo Richard Stallman (1953- ), líder do movimento pelo “software livre”; o ex-letrista da banda de rock Grateful Dead, John Barlow (1947-2018), autor de uma onírica “Declaração da Independência da Internet”; ou os suecos Peter Sunde (1978- ) e Gottfrid Svartholm (1984- ), criadores do sítio sugestivamente denominado “The Pirate Bay”. Chegados nesta terceira década do século XXI, a adesão social maciça aos YouTube, Spotify, Netflix, Facebook, Instagram etc., demonstra que o buraco é bem mais embaixo…
Como já deve ter ficado claro, não foi a tecnologia (nunca é) que subitamente tornou baratos ou de graça “produtos informacionais”. É que esses produtos, dada a natureza intrínseca da informação, de fato só podem ter valor de uso se compartilhados, compartilhamento este que, porém, anula, por definição, seus valores de troca. Assumindo que o valor de uso é produto do trabalho concreto, certamente toda peça informacional, seja música, seja romance, seja tese de doutorado, artigo científico ou fórmula de vacina anti-covid resulta de tempo de trabalho. Uma vez comunicada a peça, quem dela desfruta poupa-se o tempo que precisaria empregar para produzir algo similar. O romance escrito pela Maria em um ano não pode ser comparado a dois romances escritos por João em também um ano. Esse tipo de medida de tempo, aplicável se eu troco casacos por trigo, não cabe numa “troca” de produtos artísticos. Na produção de um artigo científico, citam-se dezenas de autores e autoras. Imagine o tempo que o cientista precisaria empregar fazendo todas as pesquisas que esses outros já fizeram antes, ao escrever o seu próprio artigo? Pior: ele precisaria ter uma vida eterna para, se necessário, fazer as pesquisas que outrora foram feitas por Marx, Newton ou… Pitágoras. O valor de uso de uma peça informacional, pois, não pode ser medido para efeito de uma eventual troca de trabalho. Por isto, Arrow estava certo ao duvidar da possibilidade de vir a ser criado um “mercado de informação”.
Antes da digitalização generalizada do mercado capitalista, a produção informacional só podia chegar aos consumidores na forma de mercadoria concreta. O trabalho de desenho e de toda a engenharia de um automóvel precisava ser efetivamente posto numa forma material de metais, vidros, plásticos, borrachas para ser trocado pelo dinheiro (fruto também do trabalho) de algum consumidor. Mas imagine se, existindo uma impressora 3D (que poderá vir a existir de fato em futuro próximo), eu puder buscar na internet um modelo completo de automóvel e imprimi-lo na garagem da minha casa? Ou talvez eu mesmo, se tiver competência para tanto, possa vir a desenhar e projetar meu próprio carro…
A mesma lógica se aplica a discos, livros ou filmes. A reprodução de um disco exigia todo um investimento em trabalho industrial, cuja demanda de capital-dinheiro não estava à altura da capacidade monetária dos artistas. A distribuição, além da própria produção, de um filme exigia investimentos (estúdios, salas de cinema etc.) que só um capitalista podia fazer. Foi esta etapa do processo de trabalho e valorização que o capital praticamente destruiu como consequência de seus próprios investimentos na indústria digital: a etapa de reprodução. E nessa destruição, destruiu também, ou desqualificou ao extremo, o enorme volume de trabalho vivo que nela precisou empregar durante as décadas áureas do fordismo… e do correlato “estado do bem estar social”. As trágicas consequências sociais desse processo estão aí à vista de todos, no mundo inteiro. Exceto, tudo indica, na China…
Nem a teoria neoclássica, nem a teoria marxista ou marxiana têm respostas para essa “economia informacional” pois ambas se baseiam na reprodução da mercadoria, e estamos falando da sua produção efetiva, da apropriação, pelo capital, da própria idéia, do projeto, da criação, isto é do trabalho vivo enquanto trabalho vivo, não na forma congelada de trabalho morto. Nesta forma, a grande indústria fordista criava barreiras ao acesso à informação que disfarçava a “propriedade intelectual” que se encontrava por trás de seus produtos. Mas a história mostra como grandes corporações a exemplo da General Electric ou da AT&T se tornaram o que se tornaram por investirem pesadamente na produção laboratorial de patentes, inclusive no combate judicial, não raro nem um pouco ético, quando não também por dumpings, a concorrentes capazes de lhes ameaçar o domínio de mercado devido a patentes inovadoras. [28] Mas ao fim e ao cabo, precisavam colocar uma lâmpada, um aparelho de rádio, uma linha de cabo telefônica na residência de seus consumidores. As patentes embutidas nesses produtos – e nos seus preços de monopólio – não eram tema de debate…
Mas seria possível derivar a partir da obra de Marx uma explicação para o processo capitalista de acumulação explorando o trabalho informacional. Assim como a propriedade do solo é o exercício de um monopólio sobre uma fração da superfície terrestre por alguém, com base no qual o proprietário, para permitir acesso a esse solo, cobra uma renda na forma de aluguel, conforme nos ensinou Marx, no Livro 3 d’O Capital; também a patente e outros “direitos intelectuais” consistem no exercício de um monopólio sobre uma fração do conhecimento social, com base no qual seu detentor pode igualmente cobrar uma renda, nas formas de “assinatura”, “pagamento por licenciamento”, “pagamento pelo uso”, ainda outras, para permitir acesso a essa informação. Assim como o acesso ao solo é vital para a sobrevivência humana e, daí, para a toda a produção econômica, também o acesso ao conhecimento, forma existencial da informação para o ser humano, é vital para a nossa vida em sociedade, mais ainda nesta complexa sociedade que resulta de quase 300 anos de evolução capitalista. Ao cobrar pelo acesso, o detentor privado de uma fração do conhecimento social, a exemplo de laboratórios farmacêuticos, corporações mediáticas, produtores de sementes e defensivos agrícolas, entre outros, está extraindo rendas informacionais de toda a sociedade, já que direta ou indiretamente somos todos socialmente tanto produtores quanto consumidores desse conhecimento. [29] Se a terra tinha sido uma propriedade comum que a evolução capitalista dividiu em propriedades privadas, o conhecimento é propriedade social comum que o capital vem fragmentando e se apropriando no seu afã de acumulação.
Até uns 50 ou 60 anos atrás, grande parte da informação social podia estar publicamente acessível, sendo os seus custos relativamente distribuídos por toda a sociedade, daí que Wiener ou Arrow podiam duvidar das possibilidades de sua apropriação privada. O teórico marxista estadunidense Herbert Schiller (1919-2000) pode ter sido o primeiro a acusar que estava em curso um processo histórico de privatização da informação, em todas as suas formas, na medida em que os grandes repositórios sociais de dados informacionais, em boa parte detidos e gerenciados pelo Estado, viessem a ser alvo de “privatização”: educação, saúde, meios de comunicação etc. [30] Foi exatamente o que aconteceu nesses últimos 30 anos de hegemonia “neoliberal”.
Palavras conclusivas
Raros autores de formação marxista encararam o desafio teórico e político de compreender a contradição entre a real natureza da informação e sua apropriação pelo capital. Um deles foi Jean Lojkine, em obra original de 1995. [31] Conhecendo a teoria da informação, ele mostra as contradições que emergiriam na sociedade capitalista mas, otimista, entende que a crescente “informatização digital” das relações produtivas e sociais, além de borrar as fronteiras entre “indústria” e “serviços”, promoveria a ascensão de uma classe trabalhadora intelectualmente qualificada, ela mesma produtora e usuária das “tecnologias da informação”, que viria a vanguardear o avanço da sociedade capitalista para uma mais avançada sociedade não mercantil. Prudente, porém, advertia: “no que se refere aos desafios atuais da revolução informacional [em] toda a sua significação cultural, política e ética, pode-se afirmar que o movimento social que deve realizá-la ainda pertence ao futuro”. [32]
Na esteira das posições de resistência, cresceu a ideia dos “comuns” (commons). Acreditando que a internet poderia derrubar as barreiras proprietárias sobre o conhecimento, como pareciam indicar, em seus primeiros tempos, movimentos como os de Stallman ou Barlow, autores como Yochiai Benkler, [33] Ricardo Abramovay, [34] entre outros, propuseram que a sociedade começasse a se organizar em modelos alternativos aos da “propriedade intelectual”. Também o fato de grupos sociais extremamente prejudicados pelos avanços do capital sobre recursos naturais se mobilizarem ativamente em defesa desses recursos, a exemplo de populações indígenas da Bolívia que tentavam proteger seus mananciais de água, produziu formulações de teóricos liberais progressistas, sobre as possibilidades dos “comuns”. Citemos Carlotte Hess e Elinor Ostrom. [35] Uma crítica rigorosa às limitações e ilusões liberal-democráticas dessas teses, a elas adjudicando o pensamento de Antonio Negri que estaria ressuscitando as idéias de Proudhon, foi feita pela dupla Pierre Dardot e Christian Laval. [36] Porém, tentando ressignificar o conceito de “comum” como significante de uma nova “revolução dos trabalhadores” (afinal, “comunismo” é palavrão…) e, como tantos outros, ignorando a associação, necessária, entre o “comum” (o que quer que isso signifique) e a natureza compartilhada da informação social, fracassam ao ousar propor um novo programa político pois ignoram a aguda crise social, inclusive a vivida no mundo do trabalho, produzida pela lógica de acumulação do capital nesta sua atual etapa: o capital-informação.
A questão central segue sem resposta. Se entendermos a informação como relação existencial do ser humano e, ao mesmo tempo, percebermos que a sociedade capitalista levou o desenvolvimento das forças produtivas a um grau que, praticamente, está nos liberando de uma grande carga de trabalho exaustivo, repetitivo, opressivo, que projeto pós-capitalista poderia ser formulado e politicamente implementado para tornar realidade o que, hoje, ainda é possibilidade? Por um lado, a sociedade do general intellect, como escreveu Marx, já está concretamente posta: é a sociedade que produz e vive das artes, dos esportes, da ciência e do consumo à sua volta. Por outro lado, como acrescenta Marx, o capital
traz à vida todas as forças da ciência e da natureza, bem como da combinação social e do intercâmbio social, para tornar a criação da riqueza (relativamente) independente do tempo de trabalho nela empregado. Por outro lado, ele quer medir essas gigantescas forças sociais assim criadas pelo tempo de trabalho e encerrá-las nos limites requeridos para conservar o valor já criado como valor. [37]
Esta amarga contradição entre um valor social não mensurável pelo tempo de trabalho (informação-conhecimento), e um regime de acumulação ainda preso ao relógio – e, cada vez mais, aos minutos, até segundos, desse relógio, como bem sabem os entregadores urbanos montados em motocicletas – limita, inclusive eticamente, a potencialidade social e histórica do intelecto geral; exclui das suas vantagens, não apenas em termos de renda mas em termos mesmo de condições da realização humana, uma parte expressiva da humanidade, condenada a condições ultrajantes de trabalho e vida. A não resolução dessa contradição está nos levando ao esgarçamento do tecido social de tal forma que já podemos afirmar estarmos testemunhando, no Brasil e no mundo, o retrocesso da Civilização para uma nova barbárie. Rosa Luxemburgo foi premonitória: socialismo ou barbárie?
Que socialismo? Que comunismo? Seja qual for, um ponto deveria ser colocado no eixo de todas as considerações: a “propriedade intelectual”. O capital tem que ser despojado dessa forma espúria de propriedade. Mas, para isso, será necessário debater um pacto social pelo qual os verdadeiros criadores, os trabalhadores das ciências, das artes, dos esportes, e todo o trabalho em seus entornos, possam ser dignamente remunerados pelos seus produtos, ao mesmo tempo em que essa riqueza – informacional – também beneficie material, estética e eticamente a sociedade em seu conjunto.
Aristóteles, em A Política, comenta que se “cada instrumento pudesse, a uma ordem dada ou apenas prevista, executar sua tarefa (conforme se diz das estátuas de Dédalo ou das tripeças de Hefaísto que iam sozinhas […] às reuniões dos deuses), se as lançadeiras tecessem as toalhas por si […], então os arquitetos não teriam necessidade de trabalhadores, nem os senhores de escravos”. [38] Marx – que cita essa passagem n’O Capital – entendeu que o capitalismo, liberando o desenvolvimento extraordinário das forças produtivas do trabalho, estava a caminho de nos conduzir a uma sociedade na qual “forjas” e “lançadeiras” fariam as transformações materiais que ainda requerem trabalho humano direto. A atividade social se concentraria no cérebro coletivo – intelecto social geral – que se dedicaria às ciências, às artes, aos esportes, à fruição da vida, enquanto a “inteligência artificial”, como dizemos hoje, os “robôs”, os “sistemas automatizados”, gerados e controlados por aquele intelecto social, cuidariam de nos prover dos alimentos, roupas, instrumentos ou ferramentas necessários ao conforto físico e mental dos nossos corpos. Só então, mobilizada na atividade de produção de conhecimento, um produto social que, nas condições históricas em que Marx viveu, não parecia passível de apropriação privada, a sociedade poderia atingir o comunismo. É o recado que ele deixa subentendido em seu famoso (e mal compreendido) “Fragmentos da mercadoria”, dos Grundrisse. Hoje, dotados que estamos da ciência cibernética, podemos dizer que a “IA”, nos termos da lógica formal da “primeira cibernética”, poderá cuidar do planejamento estatístico necessário ao atendimento das necessidades básicas dessa futura sociedade, como propuseram Oskar Lange e outros, citados por CibCom. Mas terá que, a todo instante, haver-se com os “ruídos” que essa sociedade de homens e mulheres livres e educados para serem criativos vão lhe desafiar. Estes “ruídos” cabem mal nos sistemas cibernéticos “por construção”, como os define Álvaro Vieira Pinto, só nos cibernéticos “por natureza”: a própria vida. Não se resolvem pela informação matemática, mesmo probabilística, mas pela informação semântica, com suas dubiedades, polissemias, liberdades criativas. Querer descrever essa sociedade, hoje, só numa utopia, como A Estrela Vermelha, de Bogdánov. [39] A rigor, trata-se de um projeto a ser construído no próprio processo de lutas ou, como diria o poeta Antonio Machado, um caminho a ser feito ao caminhar.
Publicado originalmente em: https://jacobin.com.br/2025/02/cibercomunismo-sim-mas-dialetico-por-favor/