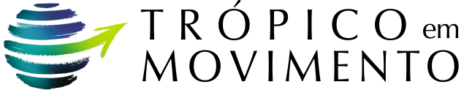Por: Peter Hudis | Tradução: Aline Scátola | Crédito Foto: Imagno / Getty Images. Rosa Luxemburg fotografada em cerca de 1910.
Passado mais de um século de seu assassinato, ainda há muito a se descobrir na obra de Rosa Luxemburgo conforme aumenta a disponibilidade de traduções de seus escritos. Para isso, o teórico brasileiro Michael Löwy está entre os melhores guias que temos.
Resenha do livro Rosa Luxemburg: The Incendiary Spark, de Michael Löwy (Haymarket Books, 2024)
Épossível encontrar motivação para mudar o mundo sem garantia de que nossos esforços serão vitoriosos? Como reunir a energia, o tempo e o compromisso necessários para reverter os estragos do capitalismo-imperialismo em um momento em que seu poder parece mais difundido e destrutivo que nunca?
Ao refletir diante de um dos momentos mais reacionários da história política moderna, poucos são os pensadores que travam um diálogo mais direto com essas questões do que Rosa Luxemburgo, a revolucionária judia polonesa amplamente considerada a mais destacada teórica e figura política da tradição marxista.
Uma nova coleção de dez ensaios escritos por Michael Löwy sobre Rosa Luxemburgo dá vida a suas contribuições multifacetadas como teórica política, economista e ativista revolucionária. Poucos marxistas contemporâneos estão mais preparados para a tarefa: Löwy dedicou mais de seis décadas a se debruçar sobre a obra da autora por uma variedade de ângulos.
Aposta revolucionária de Rosa Luxemburgo
Acoleção representa uma notável contribuição para a crescente literatura de e sobre Rosa Luxemburgo, defendendo que a autora oferece “uma contribuição singular e preciosa para a teoria da história, a filosofia política e a epistemologia marxista”. Isso porque ela foi a primeira marxista pós-Marx a rejeitar explicitamente a afirmação de que o socialismo é o resultado inevitável da necessidade histórica. A expressão mais célebre desse ponto de vista aparece em “A crise da social-democracia” (também conhecida como Folheto Junius), de 1915, com a declaração de que a humanidade enfrenta uma escolha entre “o socialismo ou a barbárie”.
“Uma coleção de ensaios escritos por Michael Löwy sobre Rosa Luxemburgo dá vida a suas contribuições multifacetadas como teórica política, economista e ativista revolucionária.”
Ao sustentar que o projeto revolucionário é uma espécie de aposta, e não um resultado predeterminado, Luxemburgo rompeu com o determinismo econômico e o evolucionismo unilinear que caracterizavam o marxismo de seu tempo. A revolução social, argumentava, envolve “uma escolha entre diversas possibilidades objetivas [que] depende da consciência, da vontade e das ações dos seres humanos”. Para Löwy, essa formulação contestava a “variante socialista da ideologia do progresso inevitável que dominou o pensamento ocidental desde o Iluminismo”. O autor argumenta que a posição de Luxemburgo representou uma contribuição original para a dialética marxista, ainda que ela não tenha se dedicado ao estudo formal da filosofia.
Löwy reconhece que, embora Luxemburgo “tenha o mérito de ser um dos poucos nomes nos movimentos operários e socialistas a contestar a ideologia do Progresso”, no período anterior a 1915, ela também defendeu a noção de que o capitalismo “inevitavelmente” daria lugar ao socialismo em função de suas contradições objetivas. Havia fortes motivos para isso.
Os marxistas da época viam a “anarquia do mercado” como um princípio definidor do capitalismo e o socialismo como a alocação racional de bens e serviços em uma economia socialmente planejada. Uma vez que as leis imanentes da produção capitalista promovem a centralização do capital em cada vez menos mãos, o argumento era de que a própria trajetória do capitalismo forneceria a base material para superar a propriedade privada dos meios de produção e a anarquia do mercado.
Além disso, uma vez que a concentração e a centralização do capital aumentam a socialização do trabalho, à medida que um número massivo de trabalhadores se reúne na produção cooperativa, as próprias leis do movimento do capital geram sua negação dialética: a resistência de um proletariado marginalizado. Tanto os marxistas reformistas quanto os revolucionários, em um grau ou outro, sustentavam que a história estava seguindo inexoravelmente para uma direção socialista. A questão em jogo era discutir a melhor forma de organizar o proletariado para a tomada do poder uma vez que as contradições imanentes do capitalismo atingissem a maturidade.
Falsa dicotomia
Como mostra Löwy, Rosa Luxemburgo foi firme defensora dessa perspectiva até 1915. Suas primeiras obras, como Reforma ou Revolução?, reiteravam a visão de que “a anarquia do sistema capitalista conduzirá fatalmente ao seu afundamento”. E muitas vezes a autora se referiu à social-democracia como um “estimulante” que “aceleraria” a ascensão do socialismo, ordenado por necessidade histórica.
Tanto os marxistas reformistas quanto os revolucionários, em um grau ou outro, sustentavam que a história estava seguindo inexoravelmente para uma direção socialista.
Ela tinha motivos para isso, já que seu objeto de crítica em Reforma ou Revolução — as ideias “revisionistas” de Eduard Bernstein — afirmava que o capitalismo havia superado sua propensão a crises endêmicas. Para Bernstein, isso significava que a defesa do socialismo dependia de um dever ou escolha ética kantiana. Isso ameaçava reduzir o socialismo a um desejo meramente subjetivo ou utópico, como havia sido para os radicais antes de Karl Marx.
Löwy mostra corretamente que Luxemburgo nunca aceitou a falsa dicotomia de que o socialismo ou é o produto inevitável de um desenvolvimento histórico economicamente determinado ou uma escolha moral ou ética. Isso porque ela deu ênfase às “condições socioeconômicas que determinam, em última instância… o socialismo como uma possibilidade objetiva”. Entre essas condições está a consciência de classe do proletariado. Ao enfatizar a importância desta última, os escritos de Luxemburgo anteriores a 1915 foram além do rígido determinismo de muitos marxistas da época, embora ela ainda aderisse à visão de um futuro socialista como uma necessidade objetiva.
Evidência forte disso está em seus escritos sobre a Revolução Russa de 1905, todos agora disponíveis nos Volumes Três e Quatro de suas Obras Completas. Como escreveu em 1906:
Tempos de revolução rasgam a jaula da “legalidade” como vapor reprimido que rompe a chaleira, permitindo a irrupção aberta, nua e irrestrita da luta de classes… a consciência e o poder político [do proletariado] emergem durante a revolução sem a deformação, as amarras e a dominação das “leis” da sociedade burguesa.
No Congresso de 1907 do Partido Operário Social-Democrata Russo, em um momento em que a Revolução parecia caminhar para a derrota, Luxemburgo apresentou o seguinte argumento:
Entendo que são uma liderança pobre e um exército lamentável aqueles que só vão para a batalha quando a vitória já está garantida. No sentido inverso, não só não pretendo prometer ao proletariado russo uma sequência de vitórias certas; penso, antes, que se a classe trabalhadora, sendo fiel ao seu dever histórico, continuar crescendo e executando suas táticas de luta consistentes com as contradições que se revelam e os horizontes cada vez mais amplos da revolução, ela poderá então acabar em circunstâncias bastante complicadas e difíceis… Mas acredito que o proletariado russo deve ter a coragem e a determinação de enfrentar tudo o que está preparado para ele pelos desdobramentos históricos; que deve, se necessário, mesmo à custa de sacrifícios, desempenhar o papel de vanguarda nesta revolução em relação ao exército global do proletariado.
A noção de que o proletariado da Rússia economicamente “atrasada” serviria como a força de vanguarda para o movimento operário alemão (e inclusive da Europa Ocidental) foi central para uma de suas obras mais importantes, Greve de massas, partido e sindicatos. Embora Karl Kautsky tenha inicialmente apoiado a abordagem de Rosa Luxemburgo, seus caminhos se distanciaram em 1910, quando ele avaliou que, com o risco de perder votos nas eleições seguintes do Reichstag, o chamado de Luxemburgo para ampliar a greve de massas da Rússia para a Alemanha tinha que ser colocado em segundo plano.
Socialismo ou barbárie
Löwy vê a ruptura de Luxemburgo com Kautsky como sinal de que, “ao aceitar a premissa kautskiana da inevitabilidade do socialismo, fica difícil escapar de uma lógica política passiva de ‘espera’”. O autor define “toda a visão de mundo de Kautsky como o produto de uma fusão extremamente bem-sucedida entre a metafísica iluminista do progresso, o evolucionismo social darwinista e o determinismo ‘marxista pseudo-ortodoxo’”.
No entanto, para Löwy, “a ruptura metodológica definitiva entre Rosa Luxemburgo e Kautsky só se produz em 1915, por meio da frase ‘socialismo ou barbárie’”. Luxemburgo vive uma crise intelectual com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a capitulação da Segunda Internacional à burguesia nacional. Seu “fatalismo otimista”, observa Löwy, ficou “obviamente bastante abalado pelo colapso da Segunda Internacional”.
Como afirma Luxemburgo no Folheto Junius:
Friedrich Engels afirmou certa vez: “A sociedade burguesa está em uma encruzilhada: ou promove a transição para o socialismo ou a regressão à barbárie”… Até hoje, provavelmente todas e todos nós lemos e repetimos essas palavras sem pensar, sem suspeitar de sua terrível gravidade… Hoje, enfrentamos a escolha exatamente como Friedrich Engels previu há uma geração: ou o triunfo do imperialismo e o colapso de toda a civilização… ou a vitória do socialismo, que significa a luta ativa e consciente do proletariado internacional contra o imperialismo e seu método de guerra.
Durante anos, quem lia Luxemburgo procurava a origem da frase de Engels “socialismo ou barbárie” (ela mesma não indicou uma fonte). Löwy toma como fonte o Anti-Dühring de Engels, que contém a seguinte formulação: “Para evitar que toda a sociedade moderna pereça, deve ocorrer uma revolução no modo de produção e distribuição”. No entanto, essa passagem não menciona diretamente a escolha entre “socialismo ou barbárie”. Löwy sugere que, ainda que Engels possa ter inspirado Luxemburgo, ela foi a primeira a levar o conceito a sério, sem apenas mobilizá-lo como um floreio retórico.
Graças ao trabalho de Ian Angus, sabemos hoje que a frase de fato não vem de Engels. Vem do comentário de Kautsky sobre o Programa de Erfurt (1892), que se tornou um dos textos mais lidos no movimento socialista da época:
Se, de fato, a comunidade socialista fosse uma impossibilidade, a humanidade seria excluída de todo o desenvolvimento econômico posterior… Da forma como as coisas estão hoje, a civilização capitalista não pode continuar; devemos avançar para o socialismo ou voltar para a barbárie.
Como Luxemburgo escreveu o Folheto Junius no cárcere, é compreensível que sua memória não tenha contribuído para recordar a fonte. Mas não é insignificante que ela se refira à formulação como aquilo que “todos nós provavelmente lemos e repetimos”.
Se o caso for, como observa Angus, de que “conceitos e formulações no livro de Kautsky se tornaram correntes nos círculos socialistas”, quanta ruptura com a ortodoxia estabelecida a evocação de “socialismo ou barbárie” de Luxemburgo realmente representou? Como Kautsky usou a frase pela primeira vez e (segundo Löwy) foi quem mais contribuiu para o determinismo “marxista pseudo-‘ortodoxo’”, não é possível então proclamar a escolha entre “socialismo ou barbárie” sem uma ruptura total com o determinismo histórico ou econômico?
Luxemburgo a respeito do mundo não ocidental
Um aspecto de especial relevância nesta coleção é que Löwy não separa os escritos políticos de Luxemburgo de seus escritos econômicos, em uma abordagem raríssima na literatura secundária. O capítulo sobre “Imperialismo ocidental contra o comunismo primitivo: uma nova leitura dos escritos econômicos de Rosa Luxemburgo” explora com maestria a análise da autora sobre as formações comunais indígenas pré-capitalistas e seu apoio à “resistência impetuosa” travada pelos povos colonizados contra o colonialismo e o imperialismo.
“Löwy não separa os escritos políticos de Luxemburgo de seus escritos econômicos, em uma abordagem raríssima na literatura secundária.”
É sabido que Luxemburgo se opunha aos apelos à autodeterminação nacional de nacionalidades subjugadas na Europa por vê-los como um desvio do internacionalismo proletário; ela era, no entanto, opositora fervorosa do colonialismo e do imperialismo e apoiou as lutas dos povos colonizados na África, Ásia, América Latina e Austrália. Com isso, ela se envolveu em extensos estudos antropológicos e etnográficos de formações comunitárias indígenas no mundo não ocidental, elogiando-as como superiores em muitos aspectos ao que caracteriza a modernidade capitalista.
Como observa Löwy:
Segundo Luxemburgo, a luta das populações indígenas contra a metrópole imperial representa de forma admirável a resistência obstinada das antigas tradições comunistas contra a ávida busca pelo lucro brutalmente imposta pela “europeização”… Lendo nas entrelinhas, é possível discernir aqui a ideia de uma aliança entre a luta anticolonial dos povos colonizados e a luta anticapitalista do proletariado moderno como uma convergência revolucionária entre o velho e o novo comunismo.
Isso se confirma ainda em uma descoberta, feita pouco após o início da impressão do livro de Löwy, de um extenso número de artigos em que Luxemburgo expressa apoio às lutas anticoloniais na África Subsaariana. São escritos que apareceram de forma anônima em 1904 em um jornal de língua polonesa que ela editou na Posnânia, região anexada pelo Império Alemão onde predominava a população falante de polonês.
Há muito já se conhece a crítica de Luxemburgo, encontrada nas obras A acumulação do capital e o Folheto Junius, ao genocídio cometido pela Alemanha contra os povos nama e herero do sudoeste da África.No entanto,é recente a descoberta de que praticamente todas as edições da Gazeta Ludowa publicadas entre janeiro e junho de 1904 continham artigos dela em apoio à revolta nama e herero contra o imperialismo alemão e às revoltas no Malawi, no Congo e na África do Sul. O material sobre África produzido chega a cerca de setenta e cinco páginas. Era nítido que Luxemburgo queria que o proletariado polonês tomasse conhecimento do que estava acontecendo no continente — e queria que sua solidariedade se estendesse às vítimas do colonialismo alemão.
Marx e Luxemburgo
Essa perspectiva era inseparável dos estudos de Luxemburgo sobre as contribuições positivas das formas coletivas e não mercantilizadas encontradas em muitas sociedades pré-capitalistas, bem como nas sociedades não capitalistas de seu tempo. Löwy aponta para sua ênfase na “resiliência” das formações comunais pré-capitalistas como uma “ruptura com o evolucionismo linear, o progressismo positivista e todas as interpretações banalmente ‘modernizantes’ do marxismo que prevaleceram em sua época”. O autor a vê indo além de Marx nesse sentido, uma vez que ela deu maior ênfase às consequências prejudiciais da colonização britânica na Índia em comparação ao que havia feito Marx em seus escritos do início da década de 1850, que elogiavam suas tendências modernizadoras.
Luxemburgo não conhecia os escritos de Marx das décadas de 1870 e 1880 sobre o mundo não ocidental, então não sabia que ele havia rompido, nessa fase de seu pensamento, com o evolucionismo unilinear que marcou o Manifesto comunista e seus escritos da década de 1850 sobre a Índia. Ela estudou alguns dos mesmos autores que Marx em sua pesquisa sobre sociedades não ocidentais (como Lewis Morgan, Sir Henry Sumner Maine e Maksim Kovalevsky), mas chegou a conclusões diferentes a partir de sua leitura.
Por exemplo, ela sustentava que a sociedade indiana era feudalista, premissa que Marx rejeitava sob o argumento de que seria um equívoco impor categorias europeias a um contexto não europeu. E enquanto Marx enfatizou a persistência das formações comunais indígenas diante da intrusão colonial, Luxemburgo insistiu que o capitalismo tinha um impacto destrutivo imediato: “O encontro é fatal para a velha sociedade universalmente e sem exceção… rasgando todos os laços tradicionais e transformando a sociedade em um curto período de tempo em uma pilha disforme de escombros”.
Marx afirma em suas cartas de 1881 a Vera Zasulitch e em seu prefácio de 1882 à edição russa do Manifesto comunista que as formas comunais russas de trabalho e posse da terra, como o mir e a obshchina, poderiam servir de base para uma transição para o comunismo que contornaria o estágio capitalista de desenvolvimento. Como observa Löwy, “sobre o tema da comuna rural russa, a visão de Luxemburgo é muito mais crítica do que a de Marx”.
Luxemburgo decerto conhecia o Prefácio de 1882 de Marx, mas jamais chegou a mencioná-lo. Até o fim de sua vida, ela defendeu que a Rússia precisava experimentar um longo período de desenvolvimento capitalista antes de alcançar o socialismo. Já em abril de 1917, no mesmo momento em que Vladimir Lenin apresentava uma perspectiva muito diferente em suas Teses de Abril, Luxemburgo apresentava a seguinte perspectiva:
Assim, a revolução na Rússia derrotou hoje o absolutismo burocrático na primeira tentativa. No entanto, essa vitória não é o fim, mas apenas um fraco início… a energia revolucionária outrora despertada no proletariado russo deve, com uma lógica histórica igualmente inevitável, recuperar o caminho da ação democrática e social radical e retomar o programa de 1905: uma república democrática, a jornada de oito horas, a expropriação de grandes propriedades, etc.
Com efeito, Luxemburgo não sugere em nenhum lugar que uma sociedade pré-capitalista poderia alcançar uma transição para o socialismo sem passar pelo estágio capitalista de desenvolvimento. Nesse sentido, ela defendia aspectos do progressismo evolucionista e modernista unilinear que caracterizavam o marxismo de seu tempo.
Luxemburgo e organização
Löwy faz a afirmação intrigante de que a visão de Luxemburgo sobre “o fator subjetivo, a vontade e a consciência” no Folheto Junius levou a uma “aproximação real” de Lenin na questão da organização após 1915, “na prática tanto quanto na teoria”. Ele atribui as diferenças anteriores entre os dois a uma “incompreensão” de Luxemburgo sobre “a teoria leninista do partido”, já que, no período anterior a 1914, ela acreditava que “a queda do capitalismo era inevitável e a vitória do proletariado seria irreprimível”.
Esse argumento é questionável em dois aspectos. Primeiro, além de seu trabalho no Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), Luxemburgo foi uma liderança de dois partidos altamente disciplinados: da Social-Democracia do Reino da Polônia entre 1893 e 1900, e da Social-Democracia do Reino da Polônia e Lituânia (SDKPiL) entre 1900 e 1919. Esta última agremiação buscou se aproximar do partido de Lênin em 1903. Portanto, é difícil acusá-la de subestimar o fator subjetivo da vontade e da consciência antes de 1915.
“O legado das muitas revoluções abortadas e inacabadas do século passado torna vital repensar a questão da organização.”
Em segundo lugar, uma vez que Löwy sustenta que Luxemburgo foi a primeira a romper com a noção da inevitabilidade do socialismo em 1915, como ela poderia ter feito “uma verdadeira aproximação” com o conceito de organização de Lenin? Pelo próprio raciocínio de Löwy, o líder bolchevique formulou esse conceito em 1903, em um momento em que aderiu à noção da inevitabilidade do socialismo. Luxemburgo não precisava de Lenin para saber que uma organização disciplinada, proativa e intervencionista era necessária para dar direção às lutas de massas: esse ponto era dado como certo dentro dos movimentos radicais da época.
Isso não significa que Löwy não seja crítico de Lenin. Ele sublinha as diferenças agudas entre Luxemburgo e Lenin e Leon Trotsky sobre a supressão da democracia após a Revolução de 1917. O autor descreve a crítica de Luxemburgo à supressão da liberdade de imprensa, associação e reunião como
profética… sem liberdades democráticas, a práxis revolucionária das massas, a autoeducação popular através da experiência, a autoemancipação dos oprimidos e o exercício do poder pela classe trabalhadora são impossíveis.
O autor conclui que as lideranças bolcheviques “involuntariamente ajudaram a criar o golem que as destruiria”. É evidente que a monopolização do poder estatal em um único partido (que em 1921 chegou a banir grupos dissidentes internos) tinha muito a ver com isso.
Esta é a questão crítica, pois a opção entre “socialismo ou barbárie” se torna ainda mais assustadora se o próprio esforço de criar o socialismo puder produzir uma espécie de barbárie, como fizeram muitas revoluções no século XX. O legado das muitas revoluções abortadas e inacabadas do século passado torna vital repensar a questão da organização, em vez de confiar em conceitos de organização que pertencem a uma era diferente.
Luxemburgo, por certo, se dedicou profundamente a tais assuntos. Ela não minimizou a importância da organização em nome da espontaneidade. Isso fica nítido em seu trabalho incansável em nome do SPD, bem como em seu papel como líder de partidos como o SDKPiL na Polônia. Este último era, em alguns aspectos, ainda mais “leninista” e centralista do que o partido de Lenin, mas o motivo disso não era a oposição de Luxemburgo às formas democráticas de organização.
Ao contrário, assim como os bolcheviques, seu partido tinha que operar em um estado czarista autocrático, o que exigia a realização do trabalho na ilegalidade, uma existência clandestina e estruturas centralizadas. No entanto, ela não defendia essa forma de organização como modelo universal que poderia ser aplicado às democracias burguesas ocidentais nas quais prevaleciam condições muito diferentes. Ela também não pressupunha que tal forma seria adequada após a obtenção do poder do Estado.
O problema da organização permanece inacabado na tradição marxista, em grande medida porque a tarefa mais ampla de repensar o significado do socialismo para a atualidade também permanece inacabada. Com sorte, essa coleção notável de ensaios produzidos por um pensador notável nos ajudará no necessário trabalho de repensar e encontrar uma saída para as contradições atuais em que nos encontramos.
Publicado originalmente em: https://jacobin.com.br/2025/05/seguimos-aprendendo-com-rosa-luxemburgo/