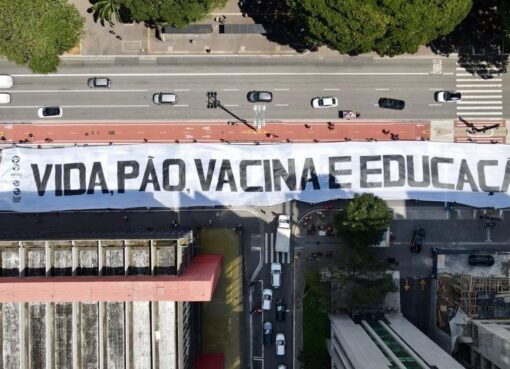Por: Frédéric Thomas | Tradução: Maurício Ayer | Imagem: Molly Crabapple. Hibaq Mohamed, imigrante somali e trabalhadora da Amazon. Enfrentando a política de repressão trabalhista implacável da multinacional, ela ajudou a organizar protestos em diversos centros de distribuição espalhados pelos EUA
Estas linhas foram escritas quando o Catar se preparava para a Copa do Mundo de futebol. A Copa está sendo disputada agora [quando o texto sai traduzido no Outras Palavras] em estádios climatizados, construídos por trabalhadores migrantes – dos quais vários milhares morreram nas obras –, trabalhando e vivendo em condições indignas, e sem direito de associação ou de constituição de sindicatos.
Este acontecimento – e as polêmicas que ele suscita – revela a situação atual. Não só a respeito da cadeia de responsabilidades capturadas nas redes da globalização e do imbricamento de Estados e empresas na origem das violações dos direitos humanos, mas também da crescente contestação, em escala global, da pretensa irresponsabilidade do mercado, e, finalmente, do fracasso dos mecanismos existentes para obrigar os atores públicos e privados a responder por seus atos e as consequências deles.
A FIFA (Federação Internacional de Futebol), que movimenta anualmente centenas de bilhões de euros, é oficialmente uma associação sem fins lucrativos. Este estatuto atesta o absurdo da ausência de definição jurídica das multinacionais – um assunto “amplamente não identificado” (Bauraind e Van Keirsbilck, 2020) –, que se escondem atrás de uma série de entidades jurídicas distintas, embora sejam alguns dos principais atores da globalização.
Esta imprecisão legal, a não consideração da internacionalização das atividades empresariais, a complexidade das cadeias de valor, a falta de transparência, a utilização de paraísos fiscais são tanto frutos das convulsões econômicas das últimas décadas como da estratégia posta em prática para aumentar as margens de manobra (e os lucros) das multinacionais, permitindo ao mesmo tempo que elas se esquivem sistematicamente de suas responsabilidades.
Por multinacional – também chamada de empresa transnacional, usaremos os dois termos –, entenderemos aqui a definição simples de uma estrutura econômica atuante em diversos países, geralmente por meio de suas filiais, mas tendo um centro principal de decisão. Concentramo-nos nas mais importantes, a maioria delas com sede nos Estados Unidos e, cada vez mais, na China e em Hong Kong.
Devida diligência?
Os “Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos” das Nações Unidas, adotados em 2011, constituem a formulação mais importante da “devida diligência” (due diligence em inglês, ou seja, o dever de agir e cuidar) até hoje . Outras instituições internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), também adotaram seus próprios instrumentos com base nesses princípios. “Desde então, eles constituem o quadro de referência global para o respeito aos direitos humanos, sociais e ambientais por parte das empresas” (Wintgens, 2022a).
Por devida diligência entende-se a obrigação dos atores privados adotarem condutas responsáveis e diligentes em suas atividades, ao longo de toda a cadeia de valor, desde a prevenção dos riscos até à mitigação e reparação dos danos causados. O conceito baseia-se em três pilares: o dever dos Estados de proteger os direitos humanos e prevenir a violação desses direitos por terceiros; a responsabilidade das empresas de respeitar esses direitos; e a necessidade de os afetados pelas atividades corporativas terem acesso a mecanismos de reparação.
A devida diligência tem sua origem nos limites da “responsabilidade social corporativa” (RSE), que se difundiu na década de 1990, para integrar voluntariamente preocupações sociais, ambientais e de direitos humanos (Wintgens, 2022b). Esta medida insere-se num contexto de globalização acelerada das atividades econômicas, de maior visibilidade do impacto das empresas e de crescente mobilização contra o liberalismo sem limites (laissez-faire). Perante a manifesta insuficiência da RSE, e enquanto se processava a reconfiguração das cadeias de valor globalizadas, após seis anos de negociação, os Princípios Orientadores foram postos em vigor em 2011.
O desabamento, dois anos depois (24 de abril de 2013), em Bangladesh, do Rana Plaza, que abrigava oficinas têxteis para marcas internacionais de roupas, demonstraria tragicamente o fracasso dessa visão [1]. Isso decorre da própria origem e natureza desses princípios. Eles nasceram de um consenso entre atores com interesses divergentes, senão antagônicos, e poderes assimétricos, com pouca ou nenhuma participação de organizações da sociedade civil. Além disso, o acordo foi feito em torno de dispositivos não compulsórios, deixando a cargo das empresas aplicá-los.
Mas, nos últimos anos, na esteira de críticas crescentes à globalização neoliberal, e sob pressão de movimentos sociais, sindicatos e ONGs, iniciativas legislativas foram tomadas – notadamente na França, Alemanha e Noruega – ou estão em discussão – entre outras na Bélgica e no âmbito da União Europeia (UE) –, com vistas a estabelecer um quadro compulsório para a devida diligência. Além disso, desde 2014, um “instrumento internacional juridicamente compulsório sobre corporações transnacionais e outras empresas no campo dos direitos humanos” está em negociação na ONU [2].
Tanto os instrumentos legais quanto os espaços de mobilização aparecem amplamente interligados e complementares. Na Bélgica, a coalizão de organizações da sociedade civil, coordenada pelo CNCD-11.11.11 e sua contraparte holandesa 11.11.11., publicou um Memorando (2020) e participa da mobilização europeia [3]. Ao nível do tratado em discussão na ONU, a “campanha global pela reconquista da soberania dos povos, pelo desmantelamento do poder das corporações transnacionais e pelo fim da impunidade” desempenhou – e continua a desempenhar – um papel preponderante.
As expectativas suscitadas hoje por essas iniciativas são equivalentes às frustrações que correm o risco de suscitar amanhã, quando forem implementadas. No centro dos debates: o âmbito de aplicação da devida diligência – a todas as empresas ou apenas às maiores; todos os setores econômicos ou apenas os considerados estratégicos, críticos ou sensíveis; ao longo de toda a cadeia de valor ou em um segmento dela identificado e formalizado –, a sua ambição – obrigação de meios ou de resultados? (Wintgens, 2022a) – bem como o acesso à informação e à justiça, o papel das partes interessadas, os meios de controle, etc.
Mas seja qual for a avaliação das leis aprovadas e dos debates em curso, pelo menos podemos concordar que elas já constituem uma vitória simbólica, na medida em que recolocam a autorregulação das empresas – como a do mercado – no seu lugar real: o de um mito. E colocam a questão dos direitos de volta no centro das questões. No entanto, resta dar ao símbolo efeitos práticos, tornando a devida diligência um meio de controle nas mãos das comunidades e organizações sociais, incluindo os sindicatos, ao invés de um referencial teórico e abstrato, uma simples lista de verificação, ou mesmo uma ferramenta para a comunicação em benefício das empresas.
Falhas e exclusões
Ao contrário da imagem redutora que torna as empresas atores neutros, no máximo vítimas ou prisioneiras das regiões problemáticas onde atuam, na realidade elas interagem constantemente com o contexto, a ponto de, como regra, ajudar a moldá-lo. Particularmente em áreas de conflito, onde as corporações transnacionais aparecem como protagonistas.
Os casos da República Democrática do Congo, Colômbia e Palestina são emblemáticos. As conclusões do recente estudo encomendado pela Solsoc [4], com duas outras ONGs belgas, FOS, IFSI, o sindicato socialista, FGTB-ABVV, e seus parceiros colombianos, a respeito das potencialidades de uma devida diligência obrigatória na Colômbia, confirmam sua importância estratégica, bem como as características específicas da atividade econômica dentro de todas as zonas de conflito [5].
Assim, fica claro o caráter generalizado, e até mesmo sistemático, das violações de direitos humanos ali cometidas por empresas, na maioria das vezes em conluio com os governos de turno, e a indiferença ou apoio implícito dos Estados onde estão suas sedes. As multinacionais não só se aproveitaram da falta de vontade política de respeitar os direitos humanos, da cultura da impunidade e da violência em curso, mas também as sustentaram e agravaram.
“A reparação das violações dos direitos humanos pelas empresas”, afirma Humberto Cantú Rivera, “pode ter um efeito dissuasor na repetição de situações semelhantes”. Por outro lado, portanto, a ausência de justiça alimenta e reforça a impunidade, consolidando a desconfiança da população em seu sistema judiciário e concedendo uma espécie de cheque em branco aos atores privados.
A insuficiente consideração da situação dos territórios em conflito, da gravidade e intensidade das violações de direitos humanos aí cometidas, não é a única zona cinzenta ou de exclusão das iniciativas de devida diligência compulsória. De fato, a dimensão de gênero está integrada de forma muito imperfeita, ainda que devido às desigualdades e à feminização do trabalho – e particularmente da subcontratação – as mulheres sejam singularmente afetadas pelas atividades das corporações transnacionais [6]. Da mesma forma, a situação dos povos indígenas e, de um modo geral, das populações vulneráveis é compreendida de maneira insuficiente.
Além disso, estão excluídos da diligência obrigatória das empresas os impactos climáticos e parcialmente os impactos sobre o meio ambiente, cuja importância estratégica, no entanto, é revelada por vários artigos deste livro, em torno do extrativismo mineral. Por fim, o lugar e o papel das vítimas e dos intervenientes permanecem abstratos e como que em suspensão, ao risco de consagrar a sua falta de acesso efetivo à justiça, por falta de medidas concretas capazes de ultrapassar os “graves e sistêmicos obstáculos” que os impedem de assumir ação legal contra empresas (Coalizão Europeia para a Justiça Corporativa – ECCJ, 2021).
Note-se que parte da sombra e do encobrimento é própria da dinâmica das multinacionais, que são objeto da devida diligência. Assim, a fragmentação e a complicação parcialmente artificiais das cadeias de valor, a ponto de formar uma rede tentacular, não respondem apenas a imperativos puramente funcionais, mas também ao desejo de explorar e exacerbar discrepâncias, contradições e outros “buracos negros” jurídicos dentro e entre os Estados, para pagar o mínimo possível de impostos, gerar o máximo de lucros e evitar responsabilidades.
Como garantir a responsabilidade e a prestação de contas de uma empresa diante dessa falta de transparência organizada? Até porque a maior parte da informação está em suas mãos e pode contar com sigilo comercial e, sobretudo, o ônus da prova ainda e sempre – inclusive nas iniciativas em discussão – é de responsabilidade das vítimas e partes interessadas.
Norte-Sul
Embora a questão das violações de direitos humanos por empresas surja tanto no Norte como no Sul, ela não levanta os mesmos questionamentos e não se presta às mesmas estratégias. Devemos, portanto, lembrar a pressão que o modelo econômico exerce sobre os países do Sul. O caso da mineração é significativo: é o consumo do Norte e da China que empurra a fronteira extrativista, exacerbando a exploração destinada à exportação. Ao fazê-lo, aumenta o conflito, intensifica a criminalização dos movimentos sociais e afeta o meio ambiente. Os riscos, os impactos e os danos são assim externalizados.
Em que medida a devida diligência reproduz ou corrige uma divisão internacional do trabalho, herdada do colonialismo e consolidada durante a globalização neoliberal, que assegurou o surgimento das multinacionais, tendo sido amplamente pilotada por estas? Uma divisão internacional do trabalho que fornece um terreno fértil para violações dos direitos humanos. Longe de ser virgem, o campo de aplicação da devida diligência é, de fato, minado e trancafiado por um conjunto de relações assimétricas de poder.
A realocação de empregos, a desregulamentação e informalidade do trabalho, a flexibilização da força de trabalho e a subordinação das mulheres dentro das empresas, o uso da subcontratação em “cascata”, o enfraquecimento dos sindicatos e, de um modo geral, da margem de manobra das políticas e instituições públicas, sobretudo nos países do Sul, não constituem um fato “natural” do mercado, mas sim fruto de escolhas estratégicas.
Escolhas confirmadas e reproduzidas por acordos de livre comércio, os tratados bilaterais, e protegidas por tribunais de arbitragem privados (Ferrari, 2022). As medidas de atração de investimentos estrangeiros e as políticas das instituições financeiras internacionais bloqueiam o caminho traçado, que acaba por sancionar a primazia do mercado sobre os direitos humanos e configura o que Berrón e Brennan chamam de “arquitetura de impunidade”.
Não é apenas a coerência das políticas que está em causa, mas também e sobretudo a camisa-de-força que esta arquitetura impõe à devida diligência, mesmo compulsória, e, inversamente, ao seu poder potencial, até de abalar e abrir uma brecha nessa estrutura. No entanto, a resposta está em parte na configuração Norte-Sul dessa estratégia.
As atuais iniciativas sobre a devida diligência ainda se caracterizam (demasiado) por uma abordagem “top-down” e do Norte para o Sul? É certo que as organizações do Sul participam, diretamente ou através das suas redes, em campanhas internacionais em torno dessas iniciativas. E também deve ser lembrado que foram dois Estados do Sul, Equador e África do Sul, que estiveram por trás da proposta de um tratado vinculante na ONU; proposta retida e obstruída pelos Estados Unidos e pela Europa.
Trata-se de operar uma regulação sob a bandeira ocidental, quer dizer, estadunidense, ou de reequilibrar as relações Norte-Sul? Para “responder aos objetivos cosméticos dos mercados” ou para “resolver os desafios estruturais” enfrentados pelas populações do Sul (Okenda)? Os complexos debates sobre a extraterritorialidade da justiça, que perpassam vários dos artigos seguintes, devem, portanto, levar em conta esse questionamento.
Para além da falta de meios e/ou vontade dos governos do Sul, a questão é de fato o acesso à justiça e à reparação, fazendo de tal modo, como Gurumurthy e Chami defendem, que assegure e aumente a capacidade de ação das pessoas e das instituições públicas – incluindo o sistema judicial e outros mecanismos de obtenção de reparação – no Sul.
Assimetria de poderes
Os debates em curso na ONU, na UE e em vários fóruns parlamentares nacionais, em torno de uma devida diligência obrigatória, são um marcador das relações de poder entre Estados, empresas e organizações sociais, e entre Norte e Sul. O risco é que essas iniciativas ocultem – e assim reforcem – ao invés de combater essas relações assimétricas de poder entre multinacionais, por um lado, e sujeitos sociais (e no interior destes entre classes sociais, relações sociais de gênero e “raça”), por outro. Quanto aos Estados, eles são frequentemente (especialmente no Sul) dominados contra os primeiros e dominantes contra os últimos.
A assimetria perpassa e estrutura todas as relações sociais, desvirtuando o objetivo de obrigar as empresas a reparar os danos e violações por elas causados. Mais do que tudo, ela constitui um grande obstáculo à participação das partes interessadas e ao acesso à justiça. Os tribunais permanecem na sua maioria fora do alcance das vítimas, multiplicando os obstáculos: tempo, dinheiro, informação, competências técnicas, etc.
E quando um procedimento é bem-sucedido, ele ainda precisa ser aplicado. Como escrevem Gonzalo Berrón e Brid Brennan, quando a decisão judicial é favorável às vítimas, “elas experimentam dificuldades em sua implementação, porque as autoridades raramente agem de acordo com as decisões que beneficiam as comunidades afetadas. Mas quando se trata de decisões favoráveis às empresas, eles procedem com diligência”. Essa assimetria jurídica alimenta e prolonga a desigualdade das relações sociais.
O desafio é, portanto, quebrar esse padrão duplo. Isso pressupõe dar mais poderes aos sujeitos sociais. E, para isso, que a devida diligência seja uma ferramenta em suas mãos. Mas, para que possam se apropriar dela, é necessário ainda que o dispositivo se preste a ela; daí a particular atenção dada à participação dos atores no monitoramento e na implementação dos planos de “due diligence”.
Entre as partes interessadas, deve ser reconhecido um lugar especial aos sindicatos. Se são partidários de uma devida diligência obrigatória, manifestam, com razão, uma certa desconfiança na promoção de um novo instrumento, ainda que alguns – que eles próprios ajudaram a forjar, como o diálogo social e a negociação – já existam há muito, mas não sejam respeitados e aplicados (na verdade são até combatidos). O interesse de uma nova lei não nos deve fazer esquecer que parte significativa dos problemas reside na não aplicação das normas existentes (e na falta de vontade de as aplicar) nem servir de desculpa para a não ratificação de convenções da OIT e, de forma mais geral, para o enfraquecimento das cláusulas socioambientais dos tratados e acordos.
Não obstante, a necessidade de mecanismos vinculativos é pouco questionada face à deterioração dos direitos dos trabalhadores. Segundo a Confederação Sindical Internacional (ITUC), em três quartos dos Estados não se respeita o direito de constituir sindicato e quase nove em cada dez países (87%) violam o direito de greve, o que exige “reconstruir nosso mundo com base em um novo contrato social” (ITUC, 2022).
Mas a assimetria encontra também a sua fonte e seus interruptores numa dimensão ideológica e simbólica, que coloca os direitos humanos em concorrência com os interesses econômicos, transformando os primeiros em uma “desvantagem comparativa” subordinada ao mercado. Por exemplo, um relatório recente do PNUD observa que “como os países africanos competem para atrair investimento estrangeiro direto, muitas vezes há a impressão de que o respeito corporativo pelos direitos humanos não atrai investimento. (…) a insistência no respeito pelos direitos humanos é vista como uma interferência na facilidade de fazer negócios” (PNUD, 2022).
O respeito aos direitos humanos, sociais e ambientais é um assunto sério demais para ser deixado nas mãos das corporações. E as violações desses direitos não são percalços ou danos colaterais, mas consequências de um modelo econômico. E da impunidade que este modelo goza. Menos concentrados e divulgados, os Rana Plazas continuam desabando todos os anos em todo o mundo. A devida diligência é tanto um sinal quanto um chamado. Da ação das comunidades indígenas e étnicas, dos movimentos camponeses e de mulheres, dos sindicatos e outras organizações sociais – e, mais ainda, das alianças que construirão entre si – depende em grande parte sua eficácia em contribuir para corrigir, senão derrubar, a assimetria de poder.
Veja em: https://outraspalavras.net/mercadovsdemocracia/multinacionais-nenhuma-opressao-e-para-sempre/