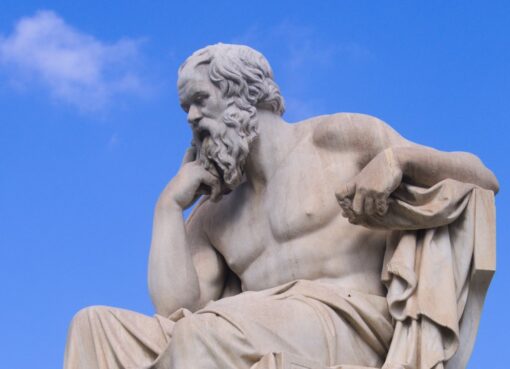Antropóloga sugere: povos originários também são guardiões da diversidade de alimentos. Se o agronegócio propaga abundância estéril, eles apostam na variedade de espécies, na terra compartilhada e na defesa dos direitos da natureza
Por: O Joio e o Trigo
“A agricultura indígena é especial. Uma roça bonita é uma roça diversa. Ter 50 variedades numa mesma roça é torná-la bonita”, explica Manuela Carneiro da Cunha, em entrevista concedida no final do ano passado. Uma das maiores antropólogas do país, Manuela conta como os povos indígenas produzem a biodiversidade agrícola e conservam a biodiversidade das florestas.
Em contraposição ao modelo de diversidade agrícola das populações tradicionais, está o agronegócio, “centrado na produção e não na diversidade. E com o custo que tem, em agrotóxicos e insumos”, diz. “Há uma imensa área coberta por exatamente a mesma variedade, não só a mesma planta, mas a mesma variedade da planta.” Ela explica que esse modelo de produção é, em grande parte, resultado da Revolução Verde, iniciativa do pós-Segunda Guerra Mundial, “que usou um discurso alarmista de que a população ia crescer e que não haveria comida para essa população crescente. Esse discurso tem muita disseminação até hoje”.
Manuela é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo (USP) e emérita da Universidade de Chicago. Membro fundadora da Comissão Arns, organização da sociedade civil que atua em defesa dos direitos humanos, foi aluna de Claude Lévi-Strauss e é autora de diversos livros sobre direitos indígenas. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, ela teve papel importante na elaboração dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, que garantem os direitos dos povos indígenas.
A antropóloga falou também sobre o discurso assimilacionista, que havia sido superado com a Constituição de 88 e que foi retomado pelo governo de Jair Bolsonaro. E discorreu sobre os projetos de monoculturas em terras indígenas. “Esse negócio de parcerias e arrendamento, no fundo, é um arrendamento mesmo. Eu acho um perigo enorme. Mas quem somos nós para dizer ‘não faça’, se eles não têm alternativas? Se o Estado não está lá para proteger, para oferecer alternativas? Que autoridade a gente tem pra isso?”, questiona.
Os projetos de agronegócio em terras indígenas foram muito impulsionados pelo governo Bolsonaro. Um dos argumentos usados para a defesa dessas iniciativas foi o do integracionismo. Em seu livro “Os Índios do Brasil”, você fala que o discurso assimilacionista tinha sido abandonado com a Constituição de 88. Esse discurso defendido nesses últimos quatro anos é semelhante ao de pré-88? Poderia explicar como ele se caracteriza?
Essa maneira de sugerir que os indígenas devem se parecer conosco é um discurso de assimilação. É isso que a gente chama de discurso assimilacionista. E durante praticamente toda a Colônia e todo o Império foi usado esse discurso de que eles tinham que se parecer conosco, tinham que adotar a nossa religião, a nossa maneira de viver, a nossa língua. A realidade é que ele foi usado para escravizar indígenas, usado para despossuí-los de terras. Sempre foi um discurso que os prejudicou, porque os forçava a abandonar a sua própria tradição e a sua própria visão do que era bom viver. Um exemplo relativamente recente são os salesianos, nos seus internatos no começo e até relativamente tarde no século 20, que proibiram os indígenas que estavam nos internatos de falar suas línguas maternas e davam palmadas em quem fosse apanhado falando essas outras línguas.
Hoje, isso é inconcebível. A sociedade hegemônica progrediu, ela passou a prezar e exaltar a diversidade e valorizar a diversidade. Então, a Constituição de 88 acabou com uma coisa que datava já praticamente do começo do século 19, do primeiro Código Civil da República, que colocava os indígenas como tutelados. Tudo isso levou a uma falsa concepção de que, sendo tutelados, eles não podiam expressar sua vontade diretamente. Isso foi corrigido de duas maneiras, sobretudo no artigo 232 da Constituição Federal, que foi muito importante.
Os indígenas não conseguiam entrar em juízo de forma autônoma e o artigo 232 mudou isso. Hoje, eles podem entrar inclusive contra a Funai, que era quem os representava anteriormente. Antes, havia o Serviço de Proteção aos Índios e, a partir de 67, foi substituído pela Funai, mas com a mesma visão assimilacionista. Esse período, até a década de 1970, foi uma década de grande avanço sobre as terras indígenas, para tirá-los da frente, favorecer grandes empresas agropecuárias e também permitir a construção das primeiras grandes hidrelétricas na Amazônia. Foi uma década terrível para os povos indígenas. Os Parakanã, por exemplo, no Pará, foram desalojados e empurrados para novas terras várias vezes. Tudo isso muda com a Constituição de 88, que tem dois artigos fundamentais, que é o 231, bastante longo, e o 232, muito curto, mas que é muito importante também.
Como você viu o governo Bolsonaro se utilizando desse discurso integracionista, assimilacionista, na defesa do projeto de agronegócio dentro de terras indígenas?
Como Darcy Ribeiro disse, o problema desse tipo de assimilação, ao longo do século 20 e já antes a mesma coisa, é que ela foi horrível para eles, pois não entraram com uma boa situação nessa outra sociedade que os queria assimilar, entraram como cidadãos de terceira e quarta classe. Não era uma coisa a ser almejada por nenhum povo indígena. E, para fazer isso, várias vezes durante toda a história do Brasil, isso serviu para simplesmente desalojá-los das terras.
Eu acho que se pode, como o historiador Oscar Beozzo fez, dividir em dois a grande história do Brasil. Há um divisor de águas grande: durante toda primeira parte dessa história, até 1845, 1850, os indígenas eram cobiçados como mão de obra. Eram escravizados através de vários subterfúgios. Em vez de serem chamados de escravos, podiam ser chamados de administrados. Havia vários subterfúgios, mas era basicamente a escravização que interessava. A partir da Lei das Terras e, portanto, a partir de meados do século 19, o que passou a interessar era a terra dos indígenas. E foi então uma enorme espoliação, feita também em nome dessa assimilação. Ela foi muito conveniente para os poderosos.
Quando o Bolsonaro e o seu governo retomam essa conversa, que eles são nossos irmãos, que eles têm direito de ser como nós e que a gente deve deixá-los vir a ser iguaizinhos a nós, esse tipo de coisa, não só é retrógrado ou abertamente ultrapassado, como é muito ignorante do aporte essencial que esses povos indígenas trouxeram, especialmente no final do século 20 e no século 21. Porque os povos indígenas são os grandes guardiões das florestas, e isso está sendo reconhecido não só internacionalmente, mas também, finalmente, aqui dentro, no Brasil. Essa contribuição é extraordinária, mas há uma outra contribuição que é muito importante: a maneira de viver dos povos indígenas é completamente diferente do modo do agronegócio usar esses territórios. Quando se vê o estabelecimento do agronegócio, há uma imensa área coberta por exatamente a mesma variedade, não só a mesma planta, mas a mesma variedade da planta. E isso é resultado, em grande parte, da Revolução Verde, que foi uma iniciativa de depois da Segunda Guerra Mundial, que usou um discurso alarmista de que a população ia crescer e que não haveria comida para essa população crescente. Esse discurso tem muita disseminação até hoje. Sempre se invoca esse mesmo espectro de que agora somos 8 bilhões e como é que vamos alimentá-los.
Mas o grande economista indiano Amartya Kumar Sen, que ganhou o Prêmio Nobel, afirma que nunca houve falta de comida, mesmo nas grandes fomes. De todas as grandes fomes, o problema foi de acesso e não de quantidade de comida. Esse é um discurso que ainda tem vigência. Aí é ver o que está acontecendo no Brasil hoje, que é um grande produtor de comida e temos uma porcentagem de brasileiros passando fome, num país que é um grande fornecedor de comida para o mundo inteiro. Como é que é possível isso? Evidentemente, não se trata de produção e sim de acesso.
Voltando à Revolução Verde, a grande mudança que ela trouxe é que justamente ela disse que o importante é a quantidade de produção. E não a diversidade. Quantidade de produção se consegue escolhendo as variedades mais produtivas de cada coisa, seja milho, arroz, enfim, qualquer dos alimentos básicos. Escolher as mais produtivas e, como essas variedades existem em função de um certo clima e de um certo solo, corrige-se isso com implementos, que são maneiras de corrigir o solo e combater as chamadas pragas com defensivos agrícolas. É uma agricultura que depende muito desses defensivos agrícolas e no Brasil, como se sabe, são terríveis porque se usa todo tipo de agrotóxico que é proibido em outros lugares e [se faz muita] correção do solo. Isso é o modelo do agronegócio.
A agricultura dos povos indígenas têm algo muito especial. Eles têm um valor. Todos os estudos estão mostrando isso. Por exemplo, hoje os Kaiapó do Pará. O que eles consideram ser uma roça bonita? Qual é o ideal de uma roça? É um exemplo que posso estender para muitos outros povos indígenas. Roça bonita é uma roça diversa. Em uma roça diversa vemos uma plantação não só de uma variedade, que pode ser mais produtiva ou não, mais bonita, mais rápida, mais resistente à seca ou não. Ter 50 variedades numa mesma roça é torná-la bonita.
Tem uma etnia do território do Xingu, que antigamente era chamada de Kayabi. Eles são especialistas em amendoim. É um cereal subterrâneo muito especial. Eles têm 13 variedades de amendoim. E com pequi a mesma coisa. E não sei se todo mundo sabe que a batata, que foi tão importante na Europa a partir do século 17, foi introduzida lá com poucas variedades, mas os povos do altiplano peruano e boliviano foram domesticadores de mais de mil variedades de batata. E essa batata viajou, mas de uma forma completamente diferente dos valores do altiplano peruano. Foram poucas variedades de batata para a Irlanda, que sustentavam a população. E quando foram atacadas por uma doença, acabaram todas porque não havia diversidade, e isso resultou em uns quatro, cinco anos de fome extraordinária na Irlanda.
Os povos indígenas não só protegem as florestas, eles também produzem biodiversidade agrícola e conservam a biodiversidade das florestas. Isso é muito importante. Hoje, a arqueologia está se ampliando. Finalmente, a arqueologia da Amazônia mostra não só a domesticação antiga, provavelmente de 7.000 anos, da mandioca e de vários outros produtos agrícolas importantes.
Cada vez que se exportou, não se exportou toda a diversidade. Ao contrário, com a Revolução Verde, todo o agronegócio está centrado na produção e não na diversidade. E com o custo que isso tem em agrotóxicos e insumos. Quem está conservando é de graça, porque gosta, porque é um valor. São as populações tradicionais, em particular os povos indígenas e a agricultura familiar, que participam também dessa lógica. Porque herdou, no fundo, de uma tradição indígena.
Um dos argumentos que foram utilizados ao longo dos últimos quatro anos, na defesa dos projetos de monocultura, é que os indígenas têm direito à autodeterminação, ou seja, direito de plantar soja. Você explica que a produção de soja é uma atividade econômica que está no caminho oposto ao modo de vida tradicional. Então, faz sentido essa defesa da produção de monocultura sob o argumento da autodeterminação?
Autodeterminação é a autodeterminação, realmente. Não há dúvida que se pode cooptar muita gente, sobretudo pessoas mais jovens. São mais fáceis de serem convencidas de que, por exemplo, o garimpo em suas terras pode ser interessante. Eu acho significativo que as mulheres pareçam ser muito mais apegadas, digamos, à tradição do que os jovens homens. Nos Munduruku, os garimpeiros cooptaram vários indígenas. E foram as mulheres que resistiram, a tal ponto que houve um ataque contra lugares em que as mulheres estavam resistindo. Isso cria uma divisão interna, sem dúvida, dependendo do grau em que é produzido.
Quer dizer, está um desastre. Esses quatro anos foram um desastre em todos os níveis. Grilagem, invasão, garimpo, violência contra indígenas. Foi uma coisa que a gente nunca viu antes. Porque até Bolsonaro, nenhum governo era abertamente anti-indígena. E pela primeira vez tivemos um presidente da República que declarou ser anti-indígena e chegou a muitos detalhes para conseguir isso. Posso entrar em vários exemplos nisso aí.
Mas voltando à questão da autodeterminação, ela permite. Se querem, podem mudar de rumo. Se isso vai ser bom? Pode ser durante um tempo. Não acredito que seja, porque não acredito nisso como um projeto de vida. Atualmente, são pouquíssimos os que estão aderindo. A grande maioria dos povos indígenas do Brasil está empenhado em defender o seu modo de vida, mas, ao mesmo tempo, adequado a um novo momento. Por exemplo, os Zoé, que são um povo de língua tupi guarani no Pará, que são de recente contato e até hoje andam nus, querem instrumentos de trabalho mais eficazes. Eles querem machados, é uma coisa desejada. E isso é desejado desde 1500. Porque torna o trabalho mais fácil.
Então é muito importante que essa nova condição seja respeitada. Não se pode simplesmente dizer “tira tudo que é garimpo”, por exemplo, sem pensar em alternativas que sejam consistentes com o bem viver que eles querem. Certamente não é um congelamento da cultura indígena como era, digamos, há 200 anos atrás. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas o projeto dos povos indígenas é um projeto em que a diversidade é um valor enorme.
Há uma abertura muito grande para novidades. Mas o princípio que comanda isso é o valor da diversidade. Isso é muito importante. E essa diversidade é o que a Revolução Verde, de certa forma, mutilou. Tanto assim que logo se percebeu, por exemplo, que das centenas de variedades locais de arroz que havia na Índia, uma quantidade enorme se perdeu quando a Revolução Verde entrou.
A agricultura indígena usa uma clareira na floresta durante uns três anos. Depois não pode mais, porque a terra já se esgota. E também porque a mandioca, que é a base da maior parte dessa agricultura, no terceiro ano já está muito mais fraca, então é abandonada. Mas ao mesmo tempo que se abre aquela clareira na floresta, se conserva a possibilidade da regeneração desse mesmo pedaço de terra, protegendo algumas plantas. Quando é abandonado aquele roçado, depois de três anos, mais ou menos, começa uma regeneração. E, como a floresta amazônica tem árvores muito altas que são dominantes e que, portanto, não deixam a luz passar para as de baixo, essa clareira é um momento, digamos, de os oprimidos terem uma segunda chance. Então tem aquelas plantas pioneiras que nascem logo, e tem vários outros momentos até que a floresta se regenere completamente. Mas ela guarda o rastro daquela agricultura esporádica.
Tem uma coisa super importante dos povos indígenas, que é a mobilidade. Os indígenas têm direitos de propriedade. Não entendem as suas roças como sendo propriedade deles. É uma coisa temporária. Eles têm direitos sobre tudo o que eles fizeram lá, são produtos do seu trabalho, mas não existe a ideia de propriedade da terra. É uma terra que é compartilhada. Quem trabalhou essa terra tem direitos sobre ela, mas depois abandona, passa para outros ou devolve para a floresta e vai para outro lugar, criar uma nova aldeia. Por isso, eles precisam de um território grande, em que possam se mover. É uma coisa essencial para a preservação da floresta e da diversidade agrícola. É uma coisa que o governo dificilmente entende.
Tem outra coisa muito específica e muito importante: os modos de ver o mundo desses povos indígenas que foram estudados por antropólogos e que também estão sendo estudados por antropólogos indígenas é que eles têm uma concepção, eles não consideram que os humanos são os reis da natureza, eles acham que todos somos seres da floresta. Isso vale para árvores, bichos e até para espíritos. Eles têm direitos também. Essa floresta é fabricada e moldada também por esses outros seres. Quase todos os povos indígenas respeitam o território. Há áreas em que é proibido caçar, porque consideram que é o lugar da reprodução dessas caças. Há toda uma ética. Todo o comportamento é de respeito pelos direitos de outros seres.
É uma visão completamente diferente da visão bíblica em que a humanidade é rainha e que todos os outros seres do mundo estão a serviço dela, foram colonizados por ela. E colônia significa usar os outros para proveito próprio. Não é essa a visão tradicional. Os indígenas têm um conhecimento da floresta extraordinário. Quase todos eles têm o hábito de, em certas épocas, maiores ou menores, segundo a etnia, largarem as aldeias e irem para a floresta. Por exemplo, quando tem certas frutas na época das chuvas, não é por causa da fruta, é por causa da caça também que também gosta dessa fruta.
Uma fração dos Parakanã, do Pará, são agricultores e, do outro lado Parakanã, eles resolveram que não queriam mais ser agricultores, queriam só ser caçadores-coletores. É de uma riqueza saber viver na floresta, é uma coisa extraordinária. O Levi-Strauss, lá atrás, em 1948, quando publicaram a primeira enciclopédia sobre os indígenas da América do Sul, chamou a atenção para isso, que eles têm um conhecimento extraordinário de recursos da floresta, e isso é de uma importância enorme para nós todos. Então, poxa, o que é isso que a gente quer destruir? É esse o futuro que a gente quer? Que a gente tenha essa riqueza extraordinária, essa sociobiodiversidade,. É isso que se quer transformar em subproletariado?
Há lacunas foram deixadas pelos governos anteriores ao do Bolsonaro e pela Funai para que houvesse espaço para esse discurso integracionista dos últimos quatro anos? Os Parecis, por exemplo, que plantam soja, falam que ficaram anos tentando apoio e que não foram recebidos pela Funai. Houve falhas ao não se oferecer outras alternativas de projetos econômicos, de geração de renda?
Têm que ter outros projetos de geração de renda, não há dúvida. Agora, de uma forma mais tímida, há os PANCS, hoje produtos de certa forma tradicionais, que estão sendo muito mais valorizados na cozinha. Tem a pimenta Baniwa. E essa variedade extraordinária está sendo valorizada numa camada muito alta. A arte e o artesanato indígenas também estão cada vez mais valorizados.
Os projetos de agro em terras indígenas funcionam por meio de arrendamentos e das chamadas parcerias, parcerias mistas. Como você vê essas iniciativas?
Esse negócio de parcerias e arrendamento, no fundo, é um arrendamento mesmo. Já foi muito usado, por exemplo, no Mato Grosso do Sul e em vários outros lugares. Rapidamente tem uma perda de território, ele se transforma. Eu acho um perigo enorme. Mas quem somos nós para dizer “não faça”, e eles não têm alternativas? Se o Estado não está lá para proteger, para oferecer alternativas. Que autoridade a gente tem pra isso?
A culpa, sobretudo, é do que foi feito nesses últimos quatro anos, coisas inomináveis. Naquele mesmo dia em que a gente viu o filme da reunião ministerial em que o Ricardo Salles teve aquela brilhante fala, dizendo para passar a boiada com coisas infralegais [em abril de 2020, Salles disse que seria hora de fazer uma “baciada” de mudanças nas regras ligadas à proteção ambiental e à área de agricultura e evitar críticas e processos na Justiça], a Funai publicou a instrução normativa número nove. Essa normativa dizia que as terras indígenas que ainda não estavam completamente regularizadas, que é um processo longo, não deviam mais figurar no Cadastro Territorial Brasileiro no Incra, no Sigef. E com isso tiraram um monte de áreas que estavam já georreferenciadas desse cadastro, e houve uma corrida de grilagem nelas. O MPF entrou com um processo na Justiça, estado por estado. Vários estados proibiram, mas a Funai resistiu, e o Incra também. Então, agora vai precisar se fazer uma devassa.
Que desafio que se coloca para o novo governo do Lula?
Não é só desfazer uma instrução normativa, é recuperar o prejuízo. E é um prejuízo que a gente sabe que tem madeira, gado, garimpo, invasões, grilagem. Precisa vontade política. Todo mundo sabe que o agronegócio não é monolítico e que a pressão internacional é grande. O que dá um certo apoio político para conseguir fazer isso agora. Ao mesmo tempo, o Lula está precisando do apoio de vários setores. E ele nunca foi avesso ao agronegócio. Acho que ele é um maravilhoso negociador. Espero que não caia outra vez numa história como a da hidrelétrica de Belo Monte. Isso também teria que ser reparado. É uma situação horrorosa. Tem oito mil pescadores na Volta Grande que estão sem recurso nenhum. Como é que a Norte Energia está propondo uma indenização para 1.500 deles? Tem enormes problemas de restituição e de recuperação. Mas eu acho que a pressão internacional ajuda, e o Fundo Amazônia, também. Se for bem utilizado, essa é uma coisa a favor. Estou apostando nisso e espero com todas as minhas forças que isso seja feito. Lembrando que o Norte do país foi abandonado, o crime organizado está lá. Basta ver o que aconteceu no Javari e o que acontece em outros lugares da Amazônia.
Veja em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/indigenas-a-roca-bonita-contra-o-monolito-ruralista/