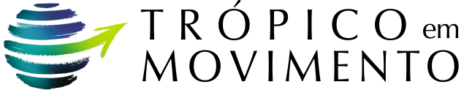A transformação urbana em si não é um problema – é inevitável. Mas pode ser inclusiva. Ímpeto para expulsar famílias da última favela central de SP conecta-se com outros projetos de “revitalização” do centro. Os corpos que contradizem o cenário não cabem na moldura
Por: Lucas Silva Pamio, naLe Monde Diplomatique Brasil | Crédito Foto: Outras Palavras
Coordenar defesa e ataque nunca foi exclusividade dos campos de batalha, a arte da estratégia também se desenha, com alguma sofisticação e muitas disputas, no tabuleiro da gestão urbana. Em São Paulo, essa lógica ganha contornos específicos e, por vezes, escancarados. A revisão do Plano Diretor Estratégico, aprovada em 2024 após longo processo de debates e reivindicações por maior participação popular, parece ter trazido à tona uma promessa de cidade mais justa, ambientalmente responsável e socialmente inclusiva. Trata-se, afinal, de um instrumento que deveria guiar o uso do solo, a ocupação territorial e o desenvolvimento sustentável da maior metrópole da América Latina.
No entanto, entre as estratégias previstas para qualificar as múltiplas ambiências urbanas da cidade, não constam algumas manobras discretas, embora nem tanto protagonizadas pelos atuais governos municipal e estadual. Estas, curiosamente, caminham na direção oposta, apostando em readequações silenciosas e apagamentos planejados, como parte de uma velha-nova tentativa de reconquistar o campo urbano, agora via a financeirização acelerada do território.
Não há conceito seja ele econômico, político ou moldado pelos interesses do capital que, isoladamente, consiga ferir diretamente os civis que ocupam este campo de disputas chamado cidade. Mas é da associação entre esses fatores, em suas formas mais engenhosas, que surge um verdadeiro armamento pesado. A artilharia é discreta, mas não menos voraz. E o ataque, embora nem sempre declarado, é contínuo. Aos que resistem, resta a coragem, o que convenhamos, não pesa o suficiente frente às estruturas de poder. Ainda assim, o confronto, mesmo sem um levante generalizado, provoca abalos nos que há décadas ocupam o território do Moinho, aquele mesmo que, até ontem, era tido como espaço esquecido, ignorado, e que hoje se descobre valorizado. Valorizado, claro, porque agora interessa.
A lógica mercantil não é sutil: onde antes havia abandono, agora há potencial de lucro. Nesse mesmo compasso, o bairro dos Campos Elísios, que em outros tempos foi literalmente concretado com seus rostos e ritos bloqueados numa tentativa desesperada de conter a “doença social” que se resumiu à “Cracolândia” começa a ser lentamente descortinado. Revive-se, aos poucos, um novo projeto: transformá-lo na “casa do povo paulista”. Mas não de qualquer povo: apenas daqueles que, socio culturalmente, são considerados bem-vindos pela governança.
Sem entrar no mérito do que foi decidido na revisão do Plano Diretor Estratégico, o PDE, vale destacar que uma de suas consequências mais visíveis será o aumento da produção de apartamentos do tipo studio: pequenos, caros e estrategicamente localizados próximos a estações de metrô, terminais e grandes eixos viários. Uma estratégia que promete adensar, mas não necessariamente habitar de forma justa. A equação, nesse caso, parece simples e falha: resolver a crise habitacional promovendo moradias para quem já pode pagar por elas, enquanto empurra os menos favorecidos para cada vez mais longe dos centros consolidados. Troca-se sombra por concreto, vizinhança por verticalização, e o pouco que resta de vegetação respirável cede espaço a avenidas e rampas de acesso. A cidade, nesse modelo, torna-se cada vez mais densa no solo e rarefeita nas relações.
Paralelamente, em nome da tão falada “revitalização”, estrutura-se um ambicioso projeto para transformar uma região central em um novo polo administrativo. Para isso, deslocam-se comunidades, reativam-se edifícios, constroem-se outros tantos, numa operação urbana que tem como palco justamente o primeiro bairro planejado da capital: os Campos Elísios. Um território que, no final do século XIX, foi idealizado por empresários alemães e suíços, nomes como Victor Nothmann, Frederico Glette e Herman von Puttkamer, como símbolo de modernidade e sofisticação. Agora, ressurge como peça-chave de uma reestruturação urbana que, inevitavelmente, implicará em alterações no uso e na organização dos espaços: zoneamento, mobilidade, novas centralidades, e o jogo segue.
Mas isso compromete, por si só, a leitura urbana da cidade? Não necessariamente. A transformação urbana, em si, não é o problema, ela é, inclusive, inevitável em uma metrópole viva como São Paulo. O que realmente importa é o como esse processo é conduzido: se é feito de maneira ética, transparente, participativa e, sobretudo, humana. Quando se escutam as vozes que habitam os territórios, quando o planejamento não se limita aos gabinetes ou às planilhas, há chances de construir uma cidade mais justa. Foi esse o espírito, ainda que com limitações, que guiou parte do processo de revisão do próprio Plano Diretor. Porque planejar uma cidade não deveria ser um exercício frio de geometria aplicada ao solo urbano, mas sim um gesto político de escuta e cuidado com as pessoas, suas histórias e os vínculos que elas constroem com os lugares que chamam de casa.
Dessa cidade que é instrumento de desejo, pela ordem que promete, pela fluidez que insinua, brota o impulso de reencontrar um passado glamouroso, arquitetonicamente representado pelos palacetes ecléticos do primeiro agrupamento urbano elitizado. Em São Paulo, a busca por esse “revival” parece estar em pleno curso, como se reanimar as fachadas do passado pudesse, por si só, reabilitar uma ideia de cidade-modelo, limpa, segura e produtiva. É nesse imaginário, cuidadosamente costurado, que se encaixam os projetos de requalificação urbana no entorno dos Campos Elísios, com suas torres, edifícios verticais, calçamentos novos, praças reformadas, vias redesenhadas e até mesmo um parque adjacente ao Palácio dos Campos Elísios, onde se pretende fincar a sede do governo de São Paulo. Impecável como as belas vitrines das lojas.
No entanto, sob essa camada de verniz institucional, os despejos, ora silenciosos, ora violentos, avançam como parte do processo. Porque nesse palco idealizado, o que não se encaixa precisa ser retirado. Os corpos que contradizem o cenário não cabem na moldura. O plano, que prevê a desapropriação de quadras inteiras, a remoção de imóveis “subutilizados”, habitações improvisadas e até aquelas que buscam o direito de permanência via usucapião, conta com uma estratégia de compensação que mais parece um convite à exclusão: indenizações monetárias que não cobrem nem de longe o custo de se manter nas centralidades urbanas. São incentivos que, embora travestidos de solução, escancaram uma diretriz de expulsão: esvaziar para construir, deslocar para embelezar, substituir para controlar. E, com isso, o centro, que deveria ser o coração pulsante de todos, torna-se novamente um território reservado aos poucos, enquanto os muitos vão sendo empurrados para os limites da cidade, onde as promessas de mobilidade e dignidade ainda são tão rarefeitas quanto o verde que já não sobra.
Mapa de identificação de intenções de projeto urbano

No vai e vem das decisões sobre como ocupar a cidade, algumas áreas ganham holofotes enquanto outras são empurradas para os bastidores. É nesse jogo de visibilidade e invisibilidade forçada, que certos territórios passam a ser vistos como “problemas” a resolver, e não como parte viva da cidade. E aí, o que se espera dos que estão no poder não é só que olhem de cima, com mapas e diagnósticos frios, mas que se envolvam de verdade. Que consigam perceber, nas miudezas do cotidiano urbano, as tensões e potências que escapam às planilhas. Que se deixem tocar pelo que pulsa nas ruas, e não apenas pelo que brilha nos projetos de gabinete. O que muitas vezes se desconsidera é que esse processo de desvalorização, que leva ao esvaziamento e à estigmatização de determinados territórios, é resultado de um conjunto de ações que, ainda que não coordenadas abertamente, convergem para a chamada shabbificação: a deterioração urbana que não ocorre por acaso, mas por abandono, por negação e por interesses alheios à permanência.
O resultado disso? Regiões com menos residentes, menos comércios, menos serviços e, portanto, menos circulação de pessoas, tornando-se territórios daquilo que a cidade prefere esconder: os socialmente excluídos, os que foram empurrados para fora do mercado formal, ou os que, por diferentes razões, optaram por se afastar de suas dinâmicas. Urbanisticamente, esse não é um fenômeno novo. Desde 2005, o projeto Nova Luz, concebido na gestão de José Serra propunha uma renovação da região central com ares de revitalização exemplar: áreas verdes, espaços públicos qualificados, equipamentos sociais e habitações de interesse social. No papel, tudo parecia caminhar para um redesenho do centro em favor da população que já o habitava. Mas, na prática, o que se assistiu foi uma tentativa de higienização visual, um verniz de modernidade sobre aquilo que era considerado comercialmente indesejável.
Arquivado em 2013 durante a gestão Haddad, o projeto, ainda assim, não deixou de inspirar ações pontuais como se o desejo de varrer da paisagem os traços incômodos da desigualdade permanecesse vivo, ainda que reembalado. Em 2017, o LabCidade, da FAU- USP, apresentou um mapeamento das ações relacionadas ao Nova Luz, evidenciando as temporalidades do projeto: lacramentos de imóveis, remoções silenciosas, expulsões veladas. Entre os atingidos, os moradores da Favela do Moinho, uma ocupação surgida na década de 1990 nas ruínas do antigo Moinho Central. Estrutura abandonada, logo ressignificada como lar, abrigo, território de identidade. A favela, afinal, não é o problema, ela é a expressão de uma cidade que se nega a acolher. Como bem cantou Bezerra da Silva, “a favela é um problema social”, e como tal, deve ser compreendida e abordada. Mas projetos como o Nova Luz, e agora o novo centro administrativo, parecem não dialogar com essa premissa.
O que está em jogo não é a melhoria da vida dos moradores do Moinho, dos cortiços, das pensões, das ocupações. O que se desenha é uma nova vitrine: um centro reabilitado não pela diversidade, mas pela exclusão; não pela integração, mas pela substituição. Com incentivos pouco compatíveis com a permanência digna nas centralidades, o que se oferece é uma delicada carta de despejo, escrita em nome do progresso, mas assinada pela velha política — aquela que parece conhecer os atalhos entre o interesse privado e o espaço público. No fim, o que se pretende construir é uma nova prefeitura, mas não necessariamente uma nova cidade. Porque transformar a cidade exige mais do que concreto e marketing: exige memória, justiça, e sobretudo, a coragem de planejar para todos, unindo a cidade informal e a cidade formal em uma cidade.
Nas frestas da precariedade, entre ausências estatais e interditos sociais, emergiram comunidades que fincaram presença à força de trabalho, afeto e insistência cotidiana. Conquistaram, com suor e enfrentamento, um lugar na cartografia do urbano, mesmo quando o traço oficial tentava apagá-las. O que se anuncia agora, no entanto, é um movimento que não carrega a justificativa da funcionalidade administrativa, mas o verniz de uma vontade simbólica: a de limpar o que escapa ao padrão, o que desafia o projeto estético de cidade. Em nome da ordem, desfaz-se o que não se pode controlar. Em nome da requalificação, desqualifica-se o que não cabe na vitrine.
O que está em curso não é desenvolvimento, é silenciamento. Uma tentativa de substituir o território vivido por um palco cuidadosamente montado, onde a vida real é vista como ruído. A cidade viva, com suas camadas, vozes e contradições, cede lugar a uma ficção urbana estéril, criada não para seus habitantes, mas para investidores e para o olhar de fora. Trata-se de uma paisagem feita para ser fotografada, não habitada. E se esse cenário parece inevitável, é porque já se luta pouco contra ele.
Aos usuários, ocupantes e amantes da cidade paulistana, não cabe apenas aguardar as próximas jogadas estratégicas e medir, passivamente, seus impactos. As ações já estão em curso, silenciosas nos bastidores do poder, estrondosas nas vidas que desestruturam. O que nos resta não é resignação, mas reação. Se a cidade-vitrine é o desejo dos que planejam de cima, que o produto exposto nela, a vida urbana real, seja valorizado, não descartado; potencializado, não substituído. Estamos falando de gente: com memória, sentimento, história e direito à permanência.
É nosso papel escutar essas vozes, reverberá-las e garantir que os princípios do Plano Diretor não sejam apenas retóricos, mas prática cotidiana. Que o desenvolvimento urbano não seja excludente, e sim plural. Que a cidade seja, sim, atrativa, desde que construída sobre os alicerces da justiça social, da equidade e da sustentabilidade. Que a governança não governe para poucos, mas para todos. Porque uma cidade viva só se mantém de pé quando quem a constrói com o corpo e o cotidiano tem direito de permanecer nela.
Publicado originalmente em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/favela-do-moinho-quando-a-revitalizacao-vira-despejo/