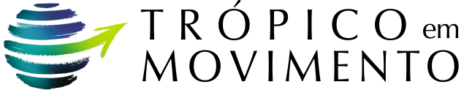Chris Wickham é um dos historiadores marxistas da Idade Média mais conhecidos. Em seu livro The Donkey and the Boat [O Burro e o Barco], ele oferece um relato ambicioso da dinâmica interna da economia mediterrânea pré-capitalista.
Por: Michele Michele Campopiano | Tradução: Pedro Silva | Crédito Foto: Leemage / Corbis via Getty Images. Uma ourivesaria (1300–1372) em Paris, França, por Jean (Jehan) de Mandeville.
Os burros são animais amigáveis: inteligentes e pacientes, são usados há milênios para transportar a mais ampla variedade de objetos e produtos. Seu trabalho humilde e importante em prol da humanidade, no entanto, raramente atraiu a atenção acadêmica.
O livro de Chris Wickham, “The Donkey and the Boat”, faz justiça ao nobre burro, mostrando precisamente a importância das trocas econômicas nos níveis local e regional (por meio de burros) em comparação com o papel do comércio de longa distância, e o barco como um objeto de estudo mais frequentemente privilegiado pelos historiadores. Isso coloca em xeque a ideia preconcebida de julgar uma economia como “dinâmica” com base na participação de certas regiões ou países no comércio “exterior” de longo alcance.
Wickham corrige essa visão distorcida especificamente com relação ao Mediterrâneo medieval. Ele também reavalia as economias pré-capitalistas em geral e, portanto, toda a nossa maneira de encarar as economias ao longo da história. “The Donkey and the Boat” enfatiza o papel da complexidade econômica regional, que traz de volta a centralidade da produção agrícola ou artesanal, a demanda local das elites proprietárias de terras ou oficiais e dos camponeses, e a troca local e de média distância desses produtos.
Wickham lecionou na Universidade de Birmingham por quase trinta anos antes de se tornar Professor Chichele de História Medieval em Oxford em 2005. Ele começou a trabalhar na relação entre historiografia e teoria marxista já na década de 1980, começando com o artigo “The Other Transition: From the Ancient World to Feudalism” [A outra transição: do mundo antigo ao feudalismo] em 1984. The Donkey and the Boat, no entanto, traz sua atenção de volta aos processos de troca em sua conexão com as relações de produção, em uma era — os anos de 950 a 1180 — que havia sido vista como central para a formação de uma genuína revolução comercial que levaria então a uma manifestação precoce da formação econômica capitalista.
A obra de Wickham enfatiza que o comércio de longa distância não foi o único elemento — talvez nem mesmo o principal — de mudança e desenvolvimento nas economias mediterrâneas. Pois estava conectado ao comércio local e regional, que representava um elemento crucial dessas economias:
É muito comum negligenciar o local, às vezes quase completamente; é menos atraente, mais cotidiano. É mencionado casualmente e depois deixado de lado; não é analisado em detalhes. Mas é o cerne; precisamos começar por aí se quisermos entender o sistema econômico como um todo. E isso nos leva ao título deste livro: precisamos estudar o burro [as trocas locais] tanto quanto o barco [o comércio de longa distância].
Como veremos, para Wickham, compreender o “sistema econômico como um todo” significa também compreender as relações de classe e, com isso, a luta de classes que determinou o desenvolvimento da dinâmica econômica.
Retornar ao local
Aposição de Wickham se relaciona com os debates econômicos históricos, estimulados pela historiografia marxista britânica, que levaram a uma profunda revolução no pensamento econômico histórico. Mas vamos colocar as coisas na ordem correta. O dinamismo da produção “local”, tanto camponesa quanto artesanal, provavelmente tem suas raízes no célebre debate Dobb-Sweezy sobre a transição do feudalismo para o capitalismo.
Paul Sweezy enfatizou o papel da economia de mercado e de troca no declínio do feudalismo e na ascensão do capitalismo. Ele via a economia feudal como fonte produtiva para o senhor, sua comitiva e a população dependente, ou seja, para um círculo limitado. Maurice Dobb, por sua vez, enfatizou o papel dos pequenos produtores no desenvolvimento do capitalismo (com atenção especial ao caso inglês), que se tornaram agentes de inovações econômicas e comerciais. Nesse contexto, por exemplo, os pequenos proprietários rurais do final da Idade Média e início da era moderna tornaram-se atores importantes nos mercados. Ao mesmo tempo, Dobb também argumentou que os pequenos produtores artesanais podem ter estado entre os principais atores na formação e no desenvolvimento da manufatura.
“Wickham enfatiza o papel dos pequenos produtores, em vez do grande capital comercial, no desenvolvimento da manufatura.”
Wickham também enfatiza o papel dos pequenos produtores, em vez do grande capital comercial, no desenvolvimento da indústria. Outro passo fundamental nessa direção foi dado por Rodney Hilton, historiador medieval e professor em Birmingham, que, com seus estudos sobre a economia inglesa do final da Idade Média, ofereceu exemplos notáveis desse papel dos pequenos produtores na dinâmica econômica.
Wickham aborda explicitamente essa ideia em relação a vários temas, entre outros, sobre a relação entre luta de classes e dinâmica econômica, como veremos mais adiante. Esse debate deu origem recentemente a importantes desenvolvimentos historiográficos, especialmente no mundo anglófono (não apenas Wickham, mas também John Haldon e Jairus Banaji, um historiador marxista indiano que publica em inglês).
Isso não quer dizer, é claro, que relações de troca de larga escala não possam ter influenciado a estruturação da economia (algo que não foi negado nem mesmo por Dobb no famoso debate com Sweezy). Mas ainda é o caso de, mesmo nesses sistemas, as estruturas regionais de troca permitirem que essas relações de longa duração sejam mantidas. No mundo pré-industrial, sistemas de transporte de longa distância e de larga escala certamente existiam. No entanto, mesmo na economia contemporânea, o papel do comércio de longa distância não é tão grande quanto se poderia pensar. Wickham escreve que as exportações dos EUA ultrapassaram apenas uma vez 10% do PIB anual nos últimos dois séculos e, na maioria das vezes, foram inferiores a 7%; as exportações francesas e italianas apenas ultrapassaram 20% após 2000 e as exportações britânicas nunca ultrapassaram 25% do PIB.
“Mesmo na economia contemporânea, o papel do comércio de longa distância não é tão grande quanto se poderia pensar.”
O retorno à escala local permite uma análise integrada da economia com maior força explicativa do que a desenvolvida pela teoria dos sistemas-mundo, que teve como seu principal expoente — e, em certo sentido, seu fundador — Immanuel Wallerstein. Ele enfatizou precisamente a escala do sistema global como a unidade primária da análise social e econômica: Um dos resultados disso é que as teorias dos sistemas-mundo relacionadas aos principais desenvolvimentos econômicos do período moderno, que dão grande ênfase às conexões internacionais, não têm força explicativa real.
As perguntas que Wickham se propõe a responder são: Quem produz? Quem vende? Quem compra? Onde se origina o motor da troca e o que o mantém funcionando? Em Wallerstein, falta o foco nas transformações produtivas internas, com ênfase na distribuição em vez da produção. Wickham vincula mercados em escala regional à produção e às relações de classe que ajudam a definir as capacidades de compra e investimento (neste ponto seguindo Hilton, como veremos):
Mas concentrar-se em economias regionais individuais como base para uma análise da transição para o capitalismo é, sem dúvida, um procedimento melhor do que a invocação das inter-relações econômicas globais como a principal causa dessa transição, uma alegação que caracterizou a teoria dos sistemas-mundo de Immanuel Wallerstein na década de 1970 e agora caracteriza a de muitos teóricos ávidos por evitar o eurocentrismo. Esse desejo é louvável, mas um resultado disso é que as relações de troca internacionais são investidas precisamente do tipo de poder explicativo que todo este livro busca demolir.
Modos de produção e antropologia cultural
Uma das questões fundamentais postas por Wickham é entender o que pode ser chamado (e o que ele chama) de “lógica” interna dessas economias. Não podemos analisar todas as economias com os conceitos e abordagens desenvolvidos para a economia contemporânea. O problema tem sido abordado de diferentes maneiras. Como o próprio Wickham argumenta, a antropologia substantivista desempenhou um papel fundamental na abordagem do problema. Isso se refere à perspectiva de estudiosos como Karl Polanyi e, posteriormente, Marshall Sahlins. Essa corrente de pensamento enfatiza como os seres humanos dependem do ambiente natural e social para sua subsistência e, portanto, a economia deve estudar a interação entre os seres humanos e o ambiente social e natural em sua totalidade.
Wickham já havia expressado uma visão favorável da antropologia substantivista em seu livro de 2005, Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400–800 [Definindo a Alta Idade Média: Europa e o Mediterrâneo, 400–800], onde ele apontou que os estudiosos dessa escola de pensamento discutiram longamente se a economia como um sistema deveria ser entendida essencialmente em termos das regras que caracterizam a troca por lucro, ou se formas alternativas de troca deveriam ser analisadas de acordo com regras diferentes.
Wickham também aponta para isso em seu novo livro, onde enfatiza o papel desempenhado pela pesquisa empírica de antropólogos substantivistas na abertura de novos horizontes. Como ele escreve:
O desafio mais sistemático a isso, é claro, vem do próprio marxismo, que considera axiomático que as regras capitalistas são contingentes e podem ser substituídas no futuro; mas isso continua sendo um desafio no nível da teoria econômica e política, já que exemplos empíricos reais de economias pós-capitalistas têm sido difíceis de se estabelecer em qualquer base de longo prazo até agora.
O desafio empírico mais sustentado veio, de fato, da antropologia substantivista, que identificou e teorizou as práticas econômicas de sociedades relativamente igualitárias ao redor do mundo, dramaticamente divergentes como geralmente são de qualquer lógica capitalista; mas, na prática, esse trabalho tem sido restrito principalmente a sociedades sem classes, e sua escala é menor quando surgem questões de domínio político e econômico.
Para Polanyi, a economia adquire estabilidade e unidade por meio da interdependência de suas partes: “isso é alcançado por meio da combinação de alguns padrões que podem ser chamados de formas de integração […]: empiricamente, descobrimos que os principais padrões são reciprocidade, redistribuição e troca”. Essas são, portanto, categorias muito diferentes daquelas do modo de produção, principalmente porque, como diz Wickham, elas não levam em conta as relações de classe.
“Uma das questões fundamentais de Wickham é entender o que pode ser chamado de ‘lógica’ interna das economias do passado.”
Polanyi sustentava que a ascensão dos mercados estava ligada ao fato de que a terra e os alimentos eram mobilizados por meio da troca, e o trabalho se tornava uma mercadoria comprada no mercado. Mas sabemos que, no capitalismo, o trabalho não é “livre” e que os sistemas capitalistas podem explorar a coerção direta, como a escravidão, como demonstrado em particular por Banaji. O “livre mercado” de trabalho não é capitalismo. Como Wickham demonstra, olhar para o modo de produção implica olhar para uma totalidade econômica que Polanyi, com suas várias trocas, é incapaz de ver.
Em um artigo publicado na Historical Materialism em 2008, Wickham apontou que a abordagem de Polanyi, de certa forma, desafia a existência de qualquer lei econômica geral, como a lei da oferta e da procura. Na revolucionária obra Stone Age Economics [Economia da Idade da Pedra], de Sahlins (publicada em 1972), encontramos reflexões importantes sobre as chamadas “economias primitivas”, com uma crítica aberta à extensão arbitrária das categorias econômicas contemporâneas a sociedades de um tipo diferente.
Assim como Polanyi, ele enfatiza a necessidade de ver a economia no contexto das relações sociais gerais: “Uma transação material é geralmente um episódio momentâneo em uma relação social contínua”. A troca está inegavelmente ligada à dimensão da sociedade como um todo: “toda troca, por incorporar algum coeficiente de sociabilidade, não pode ser entendida em seus termos materiais, à parte de seus termos sociais”.
Temos, portanto, em Sahlins uma comparação direta entre economias “burguesas” e “primitivas”, mas falta a possibilidade de encontrar uma base teórica apropriada às outras economias pré-capitalistas em sua variedade, de acordo com suas lógicas específicas. De fato, o pensamento de Sahlins, e o de seu ex-aluno David Graeber, tem resultados cada vez mais culturalistas. Torna-se cada vez mais difícil distinguir a atividade econômica da combinação geral de relações socioculturais. Por exemplo, a antropologia substantivista tende a não distinguir trocas que têm significado ritual puro (trocas de presentes em um contexto ritual) de trocas econômicas relacionadas à perpetuação material da sociedade. Sahlins, no prefácio de 2003 para Stone Age Economics, argumenta que o mérito de seu livro é precisamente ter nos encorajado a repensar a economia ou a política simplesmente como parte da cultura:
Não que o interesse nas muitas variedades sociais da vida material ou política tenha diminuído, tanto quanto o que tinha sido confiantemente chamado de “economia” ou “sistema político” está sendo repensado como “cultura”. Em vez de uma esfera separada da existência, a atividade econômica é percebida como abrangida pela ordem cultural. […] Gostaria de pensar em Stone Age Economics como uma contribuição inicial para esse fim desejável.
Mas, à medida que o vínculo entre o cultural e o econômico se torna inseparável, argumenta Wickham, a dinâmica econômica se perde, assim como a capacidade de entender as relações de dominação de classe.
“O pensamento de Sahlins e de seu ex-aluno David Graeber tem consequências cada vez mais culturalistas. Torna-se cada vez mais difícil distinguir a atividade econômica da combinação geral de relações socioculturais.”
Seguindo as categorias teóricas marxistas, Wickham adota o conceito de modo de produção. Analisar um modo de produção significa compreender como uma sociedade mobiliza o trabalho social, considerando-o no contexto das relações humanas com o ambiente natural, das relações sociais entre as pessoas, das estruturas institucionais do Estado e da sociedade que orientam essas relações e das ideias por meio das quais essas relações são veiculadas.
Essa abordagem se baseia na convicção de Wickham, já expressa em um artigo para a Historical Materialism em 2008, de que “a maneira como as técnicas e o processo de trabalho, por um lado, interagem com a exploração e a resistência, por outro, depende da lógica econômica de modos específicos”. Como John Haldon, outro ponto de referência de Wickham, escreveu em seu The State and the Tributary Mode of Production [O Estado e o Modo de Produção Tributário] (1993), o conceito de modo de produção pode ser um dispositivo para interpretar a especificidade dos sistemas econômicos.
Se adequadamente teorizado (ou seja, se as relações entre seus elementos constituintes forem coerentes), ele deve servir como um dispositivo heurístico destinado a sugerir quais perguntas devem ser feitas às evidências sobre um conjunto particular de relações sociais e econômicas, e como alguém pode começar a entender os dados históricos díspares e desconexos como representativos de uma totalidade social dinâmica.
Duas lógicas
Por sua vez, Wickham define principalmente duas lógicas de sistemas de produção:
Existem diferenças fundamentais entre, em particular, sistemas econômicos que se baseiam sobretudo na tomada de excedentes em produtos, serviços ou dinheiro dos camponeses e aqueles que se baseiam sobretudo no pagamento de salários ou ordenados aos trabalhadores. Existem outros sistemas semelhantes também, mas estes dois foram os mais difundidos na história registrada.
O primeiro dos dois, o que Marx chamou de modo de produção feudal, foi o mais difundido e duradouro de todos; o capitalismo, o segundo, teve apenas alguns séculos de existência como modo dominante. Mas é o capitalismo cuja lógica interna e padrões de desenvolvimento e mudança foram, de longe, os mais estudados, desde o próprio Marx.
Vale ressaltar aqui que a compreensão de Wickham sobre o modo de produção feudal coincide com o que Haldon e o economista egípcio Samir Amin chamaram de modo de produção tributário. Para tentar resumir a definição de Haldon: esse modo se baseia em um sistema de extração de excedentes da produção camponesa e, em última análise, depende da coerção.
“Imposto” e “renda” são duas formas possíveis dessa extração coercitiva de excedentes. Haldon sugere que as duas formas de apropriação de excedentes formam um continuum: imposto e renda são apenas duas subdivisões da mesma forma de extração de excedentes, com esse excedente sendo distribuído entre diferentes níveis da elite (por exemplo, proprietários de terras e burocracia estatal). Essas elites poderiam se apropriar do excedente diretamente na forma de renda ou indiretamente na forma de salários, por meio da redistribuição da renda tributária.
A referência ao dinamismo econômico dos pequenos produtores, que deve ser visto em sua relação conflituosa e classista com os senhores feudais, é um aspecto da análise do sistema feudal que nos remete às análises de Dobb e (ainda mais) de Hilton. Este último criticava historiadores tradicionais como Georges Duby precisamente por enxergarem apenas um lado da dinâmica da economia feudal. Em um comentário que ainda hoje é notavelmente eficaz, e que vale a pena citar na íntegra, Hilton afirma:
Ele [Duby] enfatiza a pressão do senhor sobre o camponês. Não dá a mesma atenção aos esforços dos camponeses para reter para si o máximo possível do excedente de subsistência, dado o equilíbrio sociopolítico de forças. Mas essa resistência camponesa foi de importância crucial para o desenvolvimento das comunas rurais, a extensão da livre posse e do status, a libertação das economias camponesa e artesanal para o desenvolvimento da produção de mercadorias e, eventualmente, o surgimento do empreendedor capitalista.
A luta de classes influencia a quantidade de excedente que permanece nas mãos dos camponeses, mas também como e em que medida eles podem atuar nos mercados, e seu status pessoal (livre ou não). Assim, como em Wickham, o dinamismo desse modo de produção só pode derivar, em primeiro lugar, da função dos pequenos produtores.
Wickham menciona que se baseou no foco de Hilton no conflito de classes no desenvolvimento econômico do sistema feudal. O elemento de participação na troca da sociedade rural após a extração do excedente é encontrado em Hilton, um dos aspectos que Wickham remonta ao desenvolvimento das economias mediterrâneas nos séculos abordados no livro, e à egípcia em particular:
Argumentei que a estrutura para um crescimento significativo nesse período era, empiricamente, dupla. Era preciso haver demanda suficiente da elite (isto é, a demanda de proprietários de terras, funcionários do Estado e do próprio Estado, ou das cidades como coletividades e dos ricos urbanos como indivíduos) para permitir o desenvolvimento de especializações produtivas, em particular em tecidos, ferragens e (a mais visível, porém menos importante) cerâmica — além de alguns alimentos, notadamente vinho e azeite — e para ajudar a estabelecer ou manter as redes que movimentavam mercadorias, o que as tornaria disponíveis. E também era preciso haver demanda camponesa para o desenvolvimento de mercados de massa (para os padrões medievais), o que, por sua vez, poderia permitir o desenvolvimento da produção em massa (novamente para os padrões medievais). Essas demandas não eram apenas complementares, mas necessárias para que o crescimento na escala que vimos em algumas regiões fosse possível.
Luta de classes e instituições
Aanálise de Wickham sobre o modo de produção feudal, que ecoa a visão de Amin e Haldon sobre a “continuidade” substancial entre tributação e aluguel, mais uma vez levanta a questão do papel do Estado na vida econômica, um aspecto que o próprio Wickham enfatiza:
As instituições estatais, no entanto, são outra questão. Argumentei que elas foram menos dominantes na estruturação da economia durante o nosso período do que sob o Império Romano; ainda assim, no nível regional, a instituição que teve maior impacto na economia do nosso período foi, de fato, o Estado, por meio de sua tributação, suas estruturas burocráticas mais amplas, a regularização, pelo menos potencial, dos custos de transação em sua área de domínio e, claro, seu poder de compra, juntamente com o de seus funcionários.
Este ponto é pelo menos um aceno aos argumentos da Nova Economia Institucional (NEI), mas eu diria que em nossas regiões a demanda estatal e oficial (mais o investimento) era muito mais importante do que a redução dos custos de transação e outras medidas para encorajar a estabilidade e a fluidez econômica, nas quais os teóricos da NEI tendem a se concentrar, mesmo que, com certeza, os Estados em todos os lugares ajudassem a sustentar a execução de contratos e a segurança em áreas de mercado, e a regularidade das expectativas enquanto os comerciantes viajavam (como faziam todos os poderes medievais, na verdade, mas os Estados eram melhores nisso).
A NEI é uma escola econômica que enfatiza o papel das instituições na determinação e na mudança das atividades econômicas: essa escola influenciou profundamente a história econômica nos últimos anos, como demonstrado, por exemplo, pelo sucesso de “Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade” [Instituições e o Caminho para a Economia Moderna: Lições do Comércio Medieval] (2006), de Avner Greif, que também se concentra nas economias medievais mediterrâneas. A NEI define como instituições os sistemas interconectados de regras, crenças, normas e organizações que orientam e motivam o comportamento dos atores econômicos. Mas esses sistemas interconectados de regras, podemos dizer seguindo Wickham, são determinados pelas relações sociais e políticas que unem os atores que atuam no mercado — ou seja, pela maneira como a luta de classes altera essas mesmas regras.
Na prática, chegamos novamente ao papel crucial da luta de classes, visto que ela influencia não apenas o excedente disponível para as classes dominante e produtora em uma economia feudal (e, portanto, como explica Wickham, a dinâmica da demanda econômica), mas também as “instituições”. Hilton havia apontado, por exemplo, como precisamente os grupos emergentes na classe produtora poderiam confrontar a classe dominante em questões como medidas para regular o mercado de bens de consumo, terras e trabalho. Wickham demonstra, assim, a vitalidade das categorias marxistas de análise econômica que haviam sido desenvolvidas, em particular, pela historiografia social britânica, a partir dos historiadores ligados à revista Past and Present (que começou a ser publicada em 1952).
Sua posição apresenta semelhanças não apenas com a análise de Hilton, mas também com a de Christopher Hill, que, em seus trabalhos sobre a Revolução Inglesa, enfatizou o papel da luta política na determinação das transformações das instituições econômicas. Mais uma vez, a posição da NEI, que vê as instituições como isoladas da dinâmica do conflito entre classes sociais (como já antecipado por Hilton) e da dinâmica da demanda e do investimento que dependem do controle do excedente (como já expressado por Dobb e Hilton, mas retomado e esclarecido por Wickham), revela sua abstração e incapacidade de esclarecer a realidade econômica. A tradição marxista de análise econômica mostra mais uma vez sua utilidade para a compreensão da dinâmica da história econômica.
Publicado originalmente em: https://jacobin.com.br/2025/04/um-relato-marxista-do-mediterraneo-medieval/