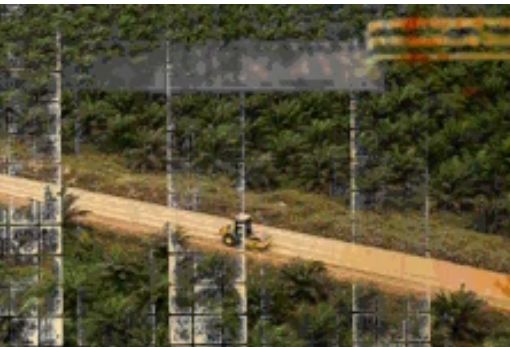O que diz o Alto Comando sobre as eleições – e o golpismo de Bolsonaro. Como se deu o retorno dos militares ao Planalto, sob a ilusão de controlar arroubos do ex-capitão. As críticas ao governo: mais à forma que ao conteúdo antidemocrático
Por: Monica Gugliano
A poucos dias do primeiro turno das eleições, o Alto Comando do Exército (ACE) se prepara para atravessar um dos momentos mais críticos de sua história desde a redemocratização. Agastados com as insinuações e comentários de que podem apoiar um golpe, os 16 generais de quatro estrelas têm recorrido ao silêncio como resposta e, à boca pequena, afirmam que nunca sequer foi cogitada alguma medida de força contra as instituições democráticas. Ao longo de três meses, a Agência Pública ouviu 15 oficiais da ativa e da reserva para entender o clima no topo da instituição. Eles acompanham com apreensão o acirramento do clima político e as previsões de que conflitos isolados criem tumultos pelo país, sabendo que existe a probabilidade de que sejam chamados a intervir pontualmente.
Reclamam da polarização e dos “ataques” e “achincalhes” que dizem receber e do desgaste da imagem da Força que atribuem a setores da imprensa e de grupos políticos que pretenderiam “desestabilizar” a instituição. E recusam o fato de que isso se deve, em grande parte, à associação nos últimos quatro anos de uma força armada com o governo de Jair Bolsonaro, avaliado negativamente por mais de 50% dos eleitores, segundo as últimas pesquisas.
“O Exército é um peão na mão dele [Bolsonaro] e é também um peão na mão de parte imprensa que usa parte do Exército para atingir o presidente. Não estão entendendo que o presidente é um lapso na história do país, qualquer presidente é um lapso na história. O Exército está aí e continuará”, afirmou um oficial general da reserva com grande influência na Força, ouvido pela Pública.
Com ações e conceitos como o do “meu Exército”, analisam acadêmicos, o presidente conseguiu dar um fim no ciclo tido como “virtuoso” até o ano de 2014, quando o Brasil caminhava para a afirmação plena do controle civil sobre os militares. “Voltamos ao início da transição democrática, quando houve um grande esforço para retirar os militares da política. Houve um claro retrocesso e se um candidato de oposição for eleito, ele terá muito trabalho para remover os militares dessa arena”, avalia o professor Octávio Amorim Neto, cientista político e professor titular da Escola de Administração Pública e de Empresas (EBAPE), da Fundação Getúlio Vargas.

Bolsonaro e os militares se retroalimentaram. E por mais que os membros do Alto Comando, a maior instância da Força, além do Comandante, tentem escapar dessa associação, o colegiado acabou por ser o elo mais visível dessa conexão, justamente porque dos integrantes saíram muitos dos membros do Governo. O que acontecerá se as urnas levarem Bolsonaro à derrota está nesta reportagem.
Em novembro de 2020, o então comandante do Exército, general Edson Pujol, declarou que “a instituição não pertence ao governo e não tem partido político”. Foi um discurso durante um seminário de defesa nacional, promovido pelas Forças Armadas em que Pujol reafirmava que “os militares não querem fazer parte da política nem querem que a política entre nos quartéis”.
Pujol evidentemente não se referia, como explicaram à época assessores dele, a instituição “Alto Comando do Exército”, regulamentada pelo Decreto Nº 31.639, de 23 de outubro de 1952, cujas ações são institucionais e que se reúne basicamente para tratar das questões administrativas e das promoções. Mas, sim, aos integrantes que passaram por ela desde que o então deputado Bolsonaro construiu sua candidatura, e em especial aqueles que participaram da articulação eleitoral e se integraram ao primeiro escalão do seu governo.
Logo de saída, os mais notórios com assento no Palácio do Planalto eram os generais da reserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro chefe da Secretaria de Governo; Maynard Marques Santa Rosa, secretário de Assuntos Estratégicos (SAE); Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa. “É uma questão de inteligência escolher os militares para alguns postos do governo. Eles estão acostumados a estudar e a decidir, com base em uma sólida formação multidisciplinar”, justifica um desses generais e a investigar as ameaças à democracia é nossa forma de protegê-la.
“Há ‘n’ vetores por onde isso foi sendo produzido, mas acho que o mais importante deles foi a extensa imbricação entre a caserna e a política que se tornou pública com o ritual de Bolsonaro sendo lançado candidato à Presidente na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 2014”, explica o professor da Universidade Federal de São Carlos, Piero Leiner. Em sua opinião, quando a candidatura de Bolsonaro foi lançada na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), toda a cadeia de comando, tendo em vista que ninguém se manifestou contra, teria se comprometido. “Uma vez que o comando permitiu, abriu-se a porteira”.
A porteira continuou aberta para sempre. Já na largada, entraram pelo portão principal do Centro Cultural do Banco do Brasil, onde se instalou a equipe de transição, os generais da reserva que puseram suas carreiras de prestígio a serviço do projeto bolsonarista, muitos dos quais acabaram demitidos com requintes de humilhação. Propagando a ideia de que poderiam controlar os arroubos do ex-capitão, embora soubessem do temperamento indisciplinado e incorrigível que ele nunca escondera.
“É uma dinâmica que voltou a ser o que era na época da ditadura, quando eles estavam governando o país. Agora eles não estão governando o país, mas as possibilidades de emprego que eles têm é similar à que eles tinham na época da ditadura”, observa a professora, doutora em ciência política, Adriana Marques. A dinâmica à qual Marques se refere é a que ocorreu após o golpe militar de 1964. Naquele momento, assim como passou a acontecer no governo de Bolsonaro, do Alto Comando saíram os presidentes da República, muitos dos seus auxiliares, presidentes de estatais e outros cargos espalhados pelo país.
“Há oito anos, qual era o horizonte do general que chegava ao Alto Comando?”, pergunta, respondendo ela mesma: “Era ficar ali até a aposentadoria. O máximo que podiam almejar era chegar a Comandante do Exército ou ser ministro do GSI, mas eram exceções. Hoje não”.
A diferença, explica a professora, está no papel que esses militares desempenham e do consenso de que não deve haver esse envolvimento. “Nos países com democracias madura, é impensável, um general sair do Alto Comando para uma função política”, diz. Ela aponta as leis dos Estados Unidos que, até a chegada de Donald Trump à Casa Branca, eram extremamente rigorosas a respeito de nomeações de generais da reserva. Trump mudou as normas, como descreve Peter Bergen, analista de segurança nacional da CNN, em seu livro “Trump and His Generals: The coast of Chaos” (Penguin Press, 2019).
Uma análise dos pagamentos a generais que saíram da ACE para se juntar ao governo mostra que eles passaram a receber salário de ministro de cerca de R$ 33 mil, além das aposentadorias integrais, de valor de cerca de R$ 31 mil. Uma portaria do governo Bolsonaro permitiu a acumulação dos dois salários.
Por meio da Lei de Acesso a Informação (LAI), a Agência Pública obteve a relação dos 41 generais que integraram o Alto Comando do Exército desde 2017. Nessa relação estão outros nomes que foram para o governo. Além do comandante Eduardo Villas Bôas, que na época já era portador de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), uma doença incapacitante, o futuro vice-presidente Hamilton Mourão; o futuro ministro da Defesa Fernando Azevedo; o general Braga Netto que passou pela Casa Civil, ministério da Defesa e agora é candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro; o general Oswaldo Ferreira, que foi um dos coordenadores do programa de governo de Bolsonaro em 2018 e foi nomeado diretor da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; o general Gerson Menandro Garcia de Freitas, embaixador do Brasil em Israel, e o general Carlos Alberto Neiva Barcellos é o Conselheiro Militar junto a Representação do Brasil na Conferência de Desarmamento da ONU, em Genebra.
Logo depois dessa primeira turma de generais que fincou bandeira no Palácio do Planalto, começaram a chegar os generais ainda na ativa. Esses últimos foram autorizados a assumirem os cargos pelo então Comandante do Exército general Edson Leal Pujol, conforme determina o artigo 1° do decreto 8.798, de 04 de julho de 2016 – o decreto de Temer logo após o afastamento de Dilma Rousseff, devolveu esse poder aos comandantes das forças.
O primeiro a chegar ao Palácio do Planalto, ainda no mês de janeiro, foi o porta-voz, general de Divisão, Otávio Rêgo Barros. Credenciado ao cargo pelo trabalho que fizera como chefe da Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEX) durante o comando do general Eduardo Villas Bôas, Rêgo Barros pretendia profissionalizar a comunicação e as ações de Bolsonaro junto a imprensa. Sucumbiu um ano e dez meses depois.
A antessala da carreira política
No período que passou na função, Rêgo Barros, descendente da nobreza pernambucana, de modos distintos, exibindo conhecimento e cultura, penou no trabalho, servindo a um chefe com nenhuma das qualidades que ele admirava e que, pelo contrário, se comportava como se estivesse numa estrebaria. Com o tempo e a familiaridade, a convivência foi piorando. A primeira ação dele na Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto foi inaugurar uma série de cafés da manhã entre o chefe e jornalistas para estreitar o relacionamento.
No início, os encontros até funcionaram, mas logo a coisa desandou. Carlos Bolsonaro, no comando do gabinete do ódio, detonava os eventos que considerava “improdutivos” e passou a se intrometer na relação de convidados. Por fim, o filho 02 convenceu o pai a acabar com os cafés e com qualquer iniciativa na área de comunicação que não fossem aquelas sugeridas pelo grupo dele ou pelo próprio presidente que passou a atender apenas os jornalistas que o ouviam sem nenhum tipo de objeção. E as relações com o general, que já eram péssimas, explodiram de vez com a chegada do publicitário de confiança da família, Fábio Wajngarten (atual coordenador de comunicação da campanha de Bolsonaro). O presidente extinguiu a função de porta-voz, exonerando Rêgo Barros sem sequer recebê-lo para lhe dar tchau.
Desde o período em que o chefe do CCOMSEX foi o general Augusto Heleno (2002-2004), até os dias de hoje, Rêgo Barros foi o único general de Divisão que chefiou o centro e não foi promovido a general de Exército. Saiu do cargo calado. Porém, alguns meses depois o ex-porta-voz passou a escrever em jornais e sites, lavando a roupa suja – mas sempre com mensagens cifradas, para entendidos – em artigos distribuídos na imprensa nacional. Acabou de vez com sua reputação entre os oficiais que consideram um “ato de traição” criticar publicamente os companheiros.
Santa Rosa e Santos Cruz abandonaram o barco ainda no primeiro ano de governo. O primeiro, um general de quatro estrelas na reserva que assumiu a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), percebeu que não haveria nada de estratégico a fazer na desordem do governo Bolsonaro. Para o lugar de Santa Rosa, Bolsonaro nomeou o Almirante Flávio Augusto Viana Rocha, tratado no Planalto como “chanceler paralelo”, pois se tornou um dos conselheiros de Bolsonaro para a política externa, depois da queda do ministro Ernesto Araújo.
O segundo, Santos Cruz, saiu em junho de 2019, decepcionado com um governo que não era nada do que ele imaginara. Hoje, ele é um dos mais duros críticos de Bolsonaro, a quem acusa de ter passado quatro anos fazendo campanha e recrimina por tentar carregar as Forças Armadas para seu projeto pessoal, como quando diz que teria apoio militar para um golpe de Estado.
“Quem ganhar, tem que levar. Seja Lula, seja Bolsonaro. São duas opções que não são boas. Mas a instituição onde eu estive tantos anos não vai se meter numa idiotice dessas”, afirmou em entrevista à Pública. Mesmo desapontado, ir para o governo ajudou-o a galgar um lugar na política. O general chegou a ser mencionado como candidato a deputado federal pelo Podemos, mas desistiu após ser cotado para integrar o comitê da ONU que vai investigar crimes e a guerra na Ucrânia. Ele nega que haja relação entre as duas coisas.
Para o lugar de Santos Cruz, Bolsonaro nomeou o general de Exército Luiz Eduardo Ramos que deu um salto mortal com duplo carpado: conseguiu dar expediente no governo enquanto general do Alto Comando. Não era inédito. Mas era raríssimo desde a redemocratização que um general de Exército, na ativa, exercesse um cargo de Ministro. Colega da Aman, amigo cordato, ferrenho admirador e um dos articuladores da candidatura de Bolsonaro, Ramos, já era olhado com desconfiança pelos colegas de farda, antes mesmo de se mudar para o Palácio do Planalto. À boca pequena, porque nunca, jamais, alguém falaria isso abertamente, se dizia que ele fazia leva-e-traz, comentando as conversas das reuniões do ACE com Bolsonaro.
Nomeado para a Secretaria de Governo – que ficou vaga com a saída também tempestuosa do general Santos Cruz – Ramos ficou, como general da ativa, um ano no cargo. Deixou de frequentar as reuniões do ACE e tirou a farda. Mas só foi para a reserva um ano depois, em 15 de julho de 2020, dizendo que se afastava para evitar especulações de que os militares se envolviam em política. Um pouco tarde. Já na reserva foi Chefe da Casa Civil, mas não lidava muito bem com as articulações políticas e, muito menos, com os temas administrativos. Ficou quatro meses no cargo e foi substituído por Braga Netto que, ainda na ativa, seguiu a escola: levou um mês para passar para a reserva.
Saiba mais em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/os-generais-ja-abandonaram-o-barco-bolsonarista/