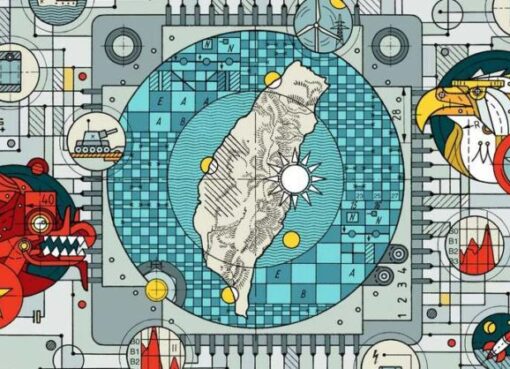Diante da persistência do horror político, ressurge a tentação de culpar a suposta “mansidão” do povo. É cômodo, porém simplório. Mais vale examinar por que desapareceu um campo político alternativo – e, em especial, como recompô-lo
Por Antonio Martins
O beco sem saída do Brasil parece se estreitar a cada dia, como se seus muros se movessem para o centro, tornando o espaço mais exíguo e o ar mais irrespirável. De um lado, há os horrores do bolsonarismo e de sua expressão atual: o escárnio diante da pandemia. De outro a agenda neoliberal. Os R$ 600 acabaram há quase três meses e seu fim multiplica a miséria e a devastação econômica; o governo parece seguro de que se o benefício voltar, será diminuído a menos da metada — e virá em troca de mais desmonte nos serviços públicos. Os mercados financeiros e a mídia criticam o presidente por… não ser tão privatizador como gostariam. As esperanças se fecham em todos os lados. Miguel Nicolellis deixou há dias o comitê científico do Consórcio do Nordeste, porque os governadores não ousavam acatar as recomendações de lockdown efetivo. Incapaz de dialogar com os dramas atuais das maiorias, a esquerda institucional tenta um salto cego até 2022, o que a faz parecer ainda mais eleitoreira e acirra suas divisões internas. Como entramos nesta cilada?
Até há algum tempo, ela parecia apenas um eco a mais do que se passava no mundo; havia uma guinada geral à direita. Mas este cenário mudou. Veio a grande onda de revoltas de 2019 – que não formularam um programa comum, mas tiveram sentido antineoliberal claro. Vieram as derrotas eleitorais da direita na Argentina, México, Bolívia e Equador, e a espetacular virada, ainda em curso, no Chile. O Black Lives Matter sacudiu os Estados Unidos em meio à pandemia e Trump foi batido a seguir. A conjuntura global tornou-se complexo e nuançado. O neoliberalismo ainda tem enorme poder de fogo, mas deixou de ser o rumo único. Nos EUA, Joe Biden empareda os republicanos ao propor contra a crise, com enorme aprovação popular, vacinação em massa e um pacote de 1,9 trilhão de dólares voltado ao socorro das maiorias, à recuperação do público (Estados e municípios) e ao alívio às pequenas e médias empresas. (Ao mesmo tempo, a Casa Branca agride a Síria e provoca a Rússia e a China…). Na Europa, que respondeu à crise de 2008 com tresloucada “austeridade”, a UE distribui fundos para a saúde, a economia do digital, o enfrentamento do desemprego tecnológico. (Também se alia às corporações farmacêuticas para produzir um colonialismo de vacinas.) Até na Índia, onde um presidente de ultradireita propõe contra-reformas agrícolas de sentido neoliberal, ergue-se um poderoso movimento camponês que abala sua popularidade.
A perplexidade e a inação política são, hoje, um fenômeno típico do Brasil. É preciso encontrar sus causas, ao invés de lançar vociferações amargas (e impotentes…) contra suposta “mansidão” da sociedade. Eis duas hipóteses.
1. O falso dualismo Bolsonaro X Mercados mantém-se porque, embora ralo, interessa às duas partes. De um lado, dá a cada uma um suposto “inimigo”, capaz de gerar solidariedade. É utilíssimo, para os neoliberais, atirar a responsabilidade pela crise ao capitão tosco. Permite-lhes esconder que o governo adota, fundamentalmente, a agenda que eles ditam. E é muito funcional, para Bolsonaro, afirmar para seu público, que se contrapõe a interesses poderosos. Garante-lhe manter a narrativa anti-establishment – certamente a mãe e de todas as suas fake-news. De outro lado, este jogo dá a cada parte a certeza de que não enfrentará oposição real. Exceto no caso de um terremoto político, os neoliberais jamais investirão de fato contra Bolsonaro, pois sabem que não há outro agente político capaz de impor, como ele, a pauta que defendem. Basta notar a inapetência do Congresso para o impeachment, apesar dos inúmeros crimes de responsabilidade e comuns cometidos. Já o presidente, apesar de às vezes rosnar contra o “sistema”, é, em sua coleira, um pitbull eficaz e fiel.
2. Porém, este dualismo só funciona devido à ausência de um campo político alternativo. A esquerda institucional desistiu, há muito, de cumprir tal papel. Por isso está totalmente ausente de debates cruciais, como o enfrentamento à covid, a crise social ou o colapso econômico. Contenta-se em fazer discursos nas tribunas parlamentares. Não produz uma iniciativa sequer de mobilização – o que seria possível, por formas alternativas, mesmo em meio à pandemia. Mantém-se imóvel mesmo diante de ações espontâneas de protesto, como os “panelaços”. Não está, de fato, interessada em compreender o drama brasileiro para dele suscitar um projeto alternativo. Quer apenas vencer em 2022 – e adota a pior estratégia para alcançar tal objetivo.
Compare o Brasil aos Estados Unidos, que viveram um drama em muitos sentidos semelhante. À eleição de Trump, em 2016, correspondeu, em parelelo, a emergência de uma nova esquerda. Figuras como Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez não surgiram do nada. São a expressão de um movimento maior, de base, que produziu o Black Lives Matter, os Socialistas Democráticos da América e uma geração jovem que vê com mais simpatia a noção de “socialismo” que a de “capitalismo”. Mas este movimento existe – e cresce – também porque se reconhece em figuras de expressão nacional, dispostas a intervir nos temas cruciais da conjuntura e, em especial, de propor agendas novas. O Green New Deal era, até a intervenção crucial de Alejandria Ocasio-Cortez, em 2018, um tema restrito ao debate teórico de pequenos círculos. Tornou-se parte da agenda política dos EUA. Foi central na campanha de Bernie Sanders. Segue vivo, como motor de imaginação política e produção de fatos concretos. Parte de seus elementos, aliás, está presente no pacote de US$ 1,9 trilhão de Biden.
A energia política de mesmo sentido, existente no Brasil, é real e está represada. Manifesta-se seguidamente: de atos nacionais gigantescos, como o “#EleNão”, à multiplicação, em importantes setores da sociedade, de atitudes quotidianas de oposição ao racismo e ao patriarcalismo ou ao apoio manifestado por milhões às posturas assumidas por “influenciadores” como Felipe Neto. Desencadeou, durante o pico anterior da pandemia, protestos corajosos e inovadores, como a união das torcidas de futebol pela democracia e as paralisações dos entregadores, Esta energia aflora inclusive nas eleições, quando provocada adequadamente – vide a campanha de Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo. Mas se esvairá por esgotamento se não encontrar, na cena nacional, expressões que a representem.
Quem poderá cumprir este papel? Quem abrirá a brecha necessária para que o vasto sentimento de mal-estar diante do desmanche material e moral do país emerja e constitua aos poucos um campo político alternativo? A constelação de movimentos sociais e organizações da sociedade civil que marcou a vida brasileira nas décadas de 1990 e 2000 – atuando ligeiramente à esquerda do PT e promovendo movimentos marcantes, como a campanha contra a Alca? Os coletivos que se veem como herdeiros de 2013 e se reconhecem no Ocupa Política? O próprio Boulos, que ingressou no PSOL mas parece enxergar mais adiante? Algum outsider – Dráusio Varella, Gregório Duvivier, Felipe Neto ou outro – talvez acolhido por um partido institucional capaz de compreender os novos tempos? Uma combinação destes personagens? Todos eles têm potências e limites – exatamente por isso, nenhum foi capaz de se colocar no posto até agora.
Mas o espaço segue aberto, é imenso e precisa ser preenchido – sob pena de o retrocesso prosseguir. As crises costumam ser boas parteiras. Que a dor imensa provocada pela pandemia, e sua gestão criminosa, possa trazer mais pistas sobre como sair do labirinto.
Veja em: https://outraspalavras.net/crise-brasileira/hipoteses-sobre-a-grande-enrascada-brasileira/